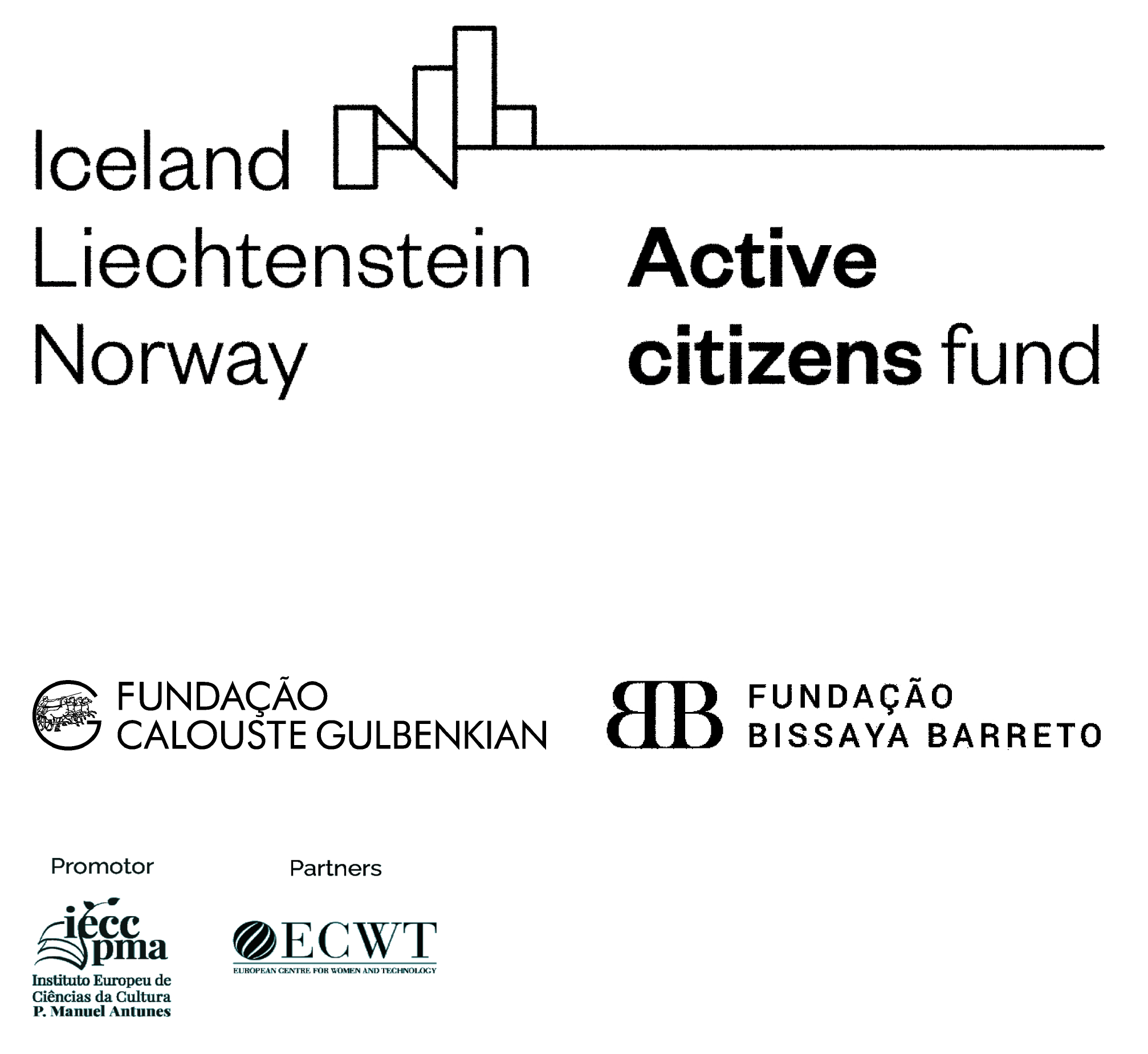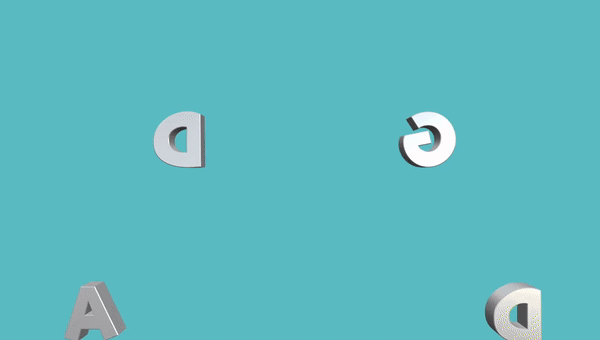Apartheid [Dicionário Global]
Apartheid [Dicionário Global]
O que é o Apartheid? “O horror! O horror!”. Quem esquecera a ulterior anáfora do coronel Kurz n’O Coração das Trevas, de Joseph Conrad (1899), “durante o supremo momento de conhecimento completo”? A reação perturbada da personagem ficcional face ao atroz furor do colonialismo europeu – no continente africano –, a atração irresistível da performance musical de Miriam Makeba (a Mama Africa) em um show anti-Apartheid ou, enfim, o sorriso radioso de Nelson Mandela, no dia da sua libertação, após 27 anos de cárcere político – por mais eloquentes – não são, propriamente, as respostas esperadas para uma pergunta tão aflitiva e desarmante. Maltratos, segregação racial, morte, desaparição, supremacia étnica, rapto, violência armada e desterros são motes terríficos. Mas para redigir a história global do Apartheid não convém evitá-los. Relembrar eventos e processos que o caracterizam pode ser árduo e até doloroso, mas para nada é factível torná-los não só passados como, já, ultrapassados, sem mostrá-los como perigos reais para o tempo presente. Cabe ao labor da memória elaborar a barbárie para que ela não venha a ter hora e lugar, por uma vez mais. Mas o que, afinal, o Apartheid veio a ser?…
Apartheid é um termo de origem africâner que significa algo como “alienação”, “separação radical” ou “apartação total”. Utilizado para descrever o regime de segregação étnico-racial que fora decretado na África do Sul em 1948 – e que perdurou até inícios dos anos 1990 –, o sistema a que nomeava fundou-se desde a ideia-força de que os grupos étnico-raciais não-brancos seriam não só distintos mas, notadamente, inferiores aos grupos étnico-raciais brancos e, portanto, deveriam ser classificados, segregados e discriminados já em todas as esferas da vida. As formas históricas de opressão social, tal como os mais diversos modos de racismo realmente existentes não são parte tão-só do que Wright Mills (1959/2000) designou “perturbações individuais” mas perfazem, sobretudo, “questões públicas”. Isto é, para além de ser algo específico, a um ou outro qualquer agente singular, trata-se de um problema das chamadas “estruturas sociais” decisivas. É esta a dimensão, preponderante, em tais processos.
Mas será já o bastante para explicá-los? O Campo de Auschwitz, barbárie por excelência, não deixa de ser a realização superior da ciência avançada à sua própria época. Ao convocar os meios hábeis para a destruição massiva dos indesejáveis, os campos de concentração não deixaram de manifestar os fins últimos de uma racionalidade, sobretudo, instrumental. É a mesma vil razão, utilitária e pragmática, a que rege estas verdadeiras celas de confinamento entranhadas em fundura tão abissal quanto 7 km abaixo da superfície nas minas sul-africanas. A mineração de ouro e diamantes na África do Sul arregimentou, sob diversas modalidades, um colossal exército industrial de reserva operária, e força de trabalho, não-livre e não-branca. É o que vozeia Hugh Masekela em “Stimela (Coal Train)”, verdadeiro hino épico monumental, que recorda a jornada e a vida miserável de operários migrantes, conscriptos para trabalhar nas minas de Joanesburgo e Kimberley, gente arrancada de suas casa e terra, de toda a África. O álbum de 1974 (I’m Not Afraid) inicia-se com movimento staccato de abertura a mimetizar o comboio. “Vem da Namíbia e Malawi, Zâmbia e Zimbábue, Angola e Moçambique”, canta.
A segregação dos espaços públicos e dos eventos sociais (“pequeno Apartheid”) seria colmatada pela determinação social da habitação, da terra e do emprego por critérios étnico-raciais (“grande Apartheid”). O primeiro e segundo anos de governo foram decisivos para o arranjo institucional do novo regime. O advento da Lei de Proibição de Casamentos Mistos (1949) e da Lei de Emenda à Imoralidade (1950) tornariam ora ilegal, para a maioria dos cidadãos sul-africanos, qualquer tipo de relação sexual inter-racial. A Lei de Registos da População (1950), daí então, categorizara toda população sul-africana em base a seus fenótipos aparentes, linhagens consubstanciadas, estratificações económico-sociais e “questões do modo de vida” (ou “cultura”): além dos blacks ou whites, havia ainda os coloureds (mestiços) e os indians (indianos), sendo que estes últimos incluíam múltiplas subsecções. A sede domiciliar foi, nesse ínterim, delimitada. Durante um quarto de século, três milhões e meio de negros sul-africanos foram removidos de suas casas e forçados a ocupar zonas segregadas como resultante da nova lei, num dos maiores desalojamentos em massa da história contemporânea conhecida. A maioria das remoções dirigia-se a nuclear toda a população negra em uma dezena de “nações tribais” circunscritas, também conhecidas como “bantustões”, quatro das quais se tornariam estados formalmente independentes. O governo, então, decretou que todas as pessoas realocadas perderiam sua cidadania sul-africana à medida que fossem absorvidas nestas novas unidades.
A discriminação étnico-racial e a desigualdade económico-social contra a população negra na África do Sul datam do processo mesmo de estruturação da colonização europeia em larga escala no país. Neste sentido, não seria um exagero retórico afiançar-se que as antevisões mais antigas do regime político do Apartheid remontam a uma história social que atravessa a modernidade-mundo, por um lado, e consolidam-se a partir de um imperialismo de novo tipo, por outro. Neste sentido, certo modo de produção colonial-escravista e as suas respetivas companhias comerciais, após a remota época histórico-social do capitalismo mercantil primício, são o seu mais recôndito “Segredo de Polichinelo”. A conquista e divisão da África pelas potências europeias ocorreu, essencialmente, nas duas últimas décadas do século XIX. Se em 1880 a carga colonial se detinha nas costas de Argélia/Senegal/Gabão (França), Gâmbia/Serra Leoa/Costa Dourada/Lagos (Inglaterra), para lá de Angola/Moçambique (Portugal), até mesmo Colônia do Cabo/Natal/Transvaal/Estado de Orange, já em 1895 toda a África estava já subdivida – à excepção dos territórios do Saara, Sudão, Marrocos e Trípoli/Etiópia.
A pulsão por trás da vaga inexorável, dirá Anderson (1962), é a manufatura. O novo tipo de imperialismo florescera, numa manifestação polida e acabada da primazia tecnológica e da produtividade desencantada. O novo tipo de modelo de negócios exigia a reabsorção de quantum e qualis em matérias-primas, inaudita por potências imperiais e, daí, a reexportação de uma dimensão substantiva delas aos novos territórios colonizados per se, já agora na forma de bens de uso manufaturados baratos. As potências mais avançadas da Europa à época – Inglaterra e França bem à frente – foram as corresponsáveis por quase 80% da totalidade de adquisições territoriais em África na segunda porção do século XIX. Suas conquistas foram lastreadas em um extremo dinamismo econômico e, com a exceção da França, demográfico. Voltemos, então, ao nódulo da rationale que constitui a este segredo mal guardado. Estamos a referir – já sem reservas – o ponto nevrálgico da assim chamada acumulação originária de capital.
A instituição por excelência desse imperialismo moderno foi, sem sombra de dúvidas, o complexo referido como companhia comercial. A iniciativa política e territorial foi governada por poderosos empreendimentos corporativos, muito antes do que por qualquer intervenção organizada do Estado. A Companhia Holandesa das Índias Orientais assumira uma estrutura de poder quase soberana, administrando e gerindo vastas áreas em África, com os seus próprios tesouros orçamentais, normativas legais, gendarmerias repressivas, corpos diplomáticos e largo etecétera. Para efeitos de relações exteriores, a companhia era muito mais “estatal” – mutatis mutandis – do que o “Estado” per se. Também sabida como companhia majestática, ou companhia de carta, era um oligopólio com os seus investidores e acionistas a que eram concedidos privilégios exclusivos, por carta de concessão real, para fins de comércio, exploração e/ou colonização. Nas colônias administradas por estas, como as eram a África Austral de fala neerlandesa, todo o poder público, enquanto tal, não se exercia diretamente por meio de organismos soberanos dos Países Baixos, mas através de suas superintendências.
Segundo Marx, n’A assim Chamada Acumulação Primitiva, “a Holanda era o Estado-nação capitalista modelar do século XVII”. A história da economia colonial holandesa desenrolar-se-ia sob um inexcedível quadro de pura “traição, suborno, massacre e baixeza” (1867/2008). Nada seria mais típico – neste sentido – do que o seu sistema de rapto humano nas Célebes, a fim de se obter escravos para a ilha de Java. O ladrão, o intérprete e o vendedor eram os agentes principais nesse vil negócio e, os príncipes nativos, os seus principais revendedores. O sequestro e extravio de pessoas tendo como atividade-fim a sua venda como escravos não deixa de compor a protoforma vital do que viria a ser este complexo sistema discricionário.
Formada em 1602 na capital neerlandesa – logo após a Companhia Inglesa das Índias Orientais – com o repto de ultrapassar os rivais imperiais nesta rota comercial essencial, criar-se-á daí o seu Banco de Amesterdão, em 1609, para apoiar o intercâmbio ultramarino, fonte de metais preciosos. É da dinâmica financeira da Companhia Holandesa que surgirá o conceito atual de “ações” (aktien), por via da divisão, em 1610, do seu capital em quotas iguais e transferíveis. Tornar-se-á, contudo, devido a estes mesmos remates, cada vez mais um aparelho de Estado, com autoridade militar e com poder bélico, para gerir ou impor – via coerção ou consenso – direitos e desígnios no mar. As taxas, sobre mercados e rendas, enfartam os cofres do Estado.
As várias colônias sul-africanas aprovaram leis durante o resto do século XIX para limitar a liberdade dos trabalhadores não-qualificados, aumentar as restrições legais aos trabalhadores contratados e regular relações sociais entre grupos étnico-raciais. As descobertas de diamante e ouro no país também agigantara às desigualdades combinadas. Da chegada dos primeiros colonizadores holandeses, que resultou na ocupação de terras destes povos autóctones e na fixação de uma economia baseada na agricultura e na pecuária, até a exploração das minas da zona, que atraíra operários migrantes de diversas partes do mundo, aumentando a coação à população negra local, sucederam-se aí as mais diversas camadas de exploração económica, opressão social, dominação política e heteronomia cultural de impérios coloniais adversários. Quando, por fim, a África do Sul tornou-se um país independente, consolidando aí o poder social, político e econômico dos brancos, o Partido Nacional chegaria ao poder em 30 anos. O Apartheid não adveio como raio em céu azul.
Entre finais do século XIX e inícios do século XX, registam-se uma série complexa das mais múltiplas determinações jurídicas e mediações institucionais que viriam a ser prolegômenos do Apartheid enquanto tal. A política, a economia e a cultura sul-africana – o Estado e a sua sociedade civil –, claro, não atravessaram incólumes a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. O grande e terrível mundo do século XX, em convulsa transformação, combinava crescimento dos monopólios industriais na Europa ocidental e expansão imperial colonial d’além-mar ao franco progresso tecnológico, aceleradas acumulação, concentração e expansão de capitais, aumento das taxas de lucro e uma cada vez maior rivalidade militar inter-imperialista global. A viragem para a exploração mineradora, após a descoberta de jazidas de ouro e diamantes, visava a um cálculo gélido. A faturação, lucratividade, rentabilidade e ulterior entesouramento do negócio traçaram a conscrição militar para angariar força de trabalho compulsória negra.
Senão vejamos. A profundidade extrema das jazidas minerais sul-africanas, combinadas aos meios técnicos e científicos disponíveis sob o desenvolvimento destas forças produtivas, não deixaram mais e melhor opção – do ponto de vista exclusivo da produtividade, em seu sentido tipicamente capitalista – do que continuar e aprofundar este complexo sistema que se formou, na África Austral, para a extração de mais-valia sob a exploração de labor negro. O trabalho ultrabarato e análogo à escravidão foi a via escolhida pelo nacionalismo africâner para impulsionar, assegurar e intensificar o superlucro das classes proprietárias sul-africanas. Os trabalhadores forçados – na África do Sul – cavaram as mais profundas minas de extração comercial de todo o Planeta. Se é bem verdade que o Apartheid só fora formalizado em 1948, a sua criação foi estabelecida, em gérmen, muito antes. A indústria mineradora promovera a conceção de leis e usos na África do Sul que gradativamente expropriaram povos autóctones negros do país. Sob seu mando, sucessivos governos brancos implementaram medidas para, simultaneamente, forçar homens negros a abandonar plantios familiares, para o trabalho nas minas, além de impedir que eles e as suas famílias se fixassem em perímetros urbanos. Como e porque os governos brancos perseguiram esses objetivos revela muito sobre o nexo íntimo entre os polos da acumulação e da legitimação no interior do modo de produção capitalista.
Mas cavar não foi a única coisa que fizeram. O ponto de viragem surgiu das sucessivas greves dos trabalhadores das minas, sobretudo do receio que os proprietários das minas de facto expressaram em relação à possibilidade objetiva de que os trabalhadores negros não só aprendessem, das sucessivas greves de trabalhadores brancos, como se juntassem às mesmas. Afinal, a composição da classe mineira não era tão distinta em termos económico-sociais ou político-culturais, padrões de literacia e condições de vida eram símiles entre fileiras brancas e negras. As greves mineiras – 1902, 1906/1907, 1913 e 1922 – foram um divisor de águas.
O recém-regime será institucionalizado pelo partido nacionalista africâner a partir de um programa político sufragado pelas urnas. Os aparelhos de Estado daí então impuseram, por força de lei, uma série de medidas que subdividiam o povo sul-africano em quatro grupos étnico-raciais (e.g., brancos, indianos, mestiços e negros). As vidas negras – como é já de domínio público – importavam, na verdade, muito pouco, sendo-lhes daí amiúde alienadas, sistemicamente, séries elementais de liberdades, garantias e direitos fundamentais, tais como o direito de voto, de se relacionar com pessoas de outros grupos, e de conviver nas mesmas instituições de ensino e espaços públicos que os dominantes. Diferentemente de países como Brasil e Portugal, por exemplo, formações sociais como a África do Sul e os Estados Unidos da América desenvolveram formas de racialização e de racismo jurídico-formal estatal. Nada obstante, como bem lembra Anderson, o facto mesmo de não se inscrever na letra da lei o “preconceito de cor” (FERNANDES, 1978), discriminação racial sistemática, não fez do império colonial português algo “menos racista”, muito pelo contrário: o resultado obtido por vias transversas foi tão ou mais eficiente no sentido da manutenção do poder em comparação aos demais impérios coloniais europeus de língua francesa, holandesa e inglesa (ANDERSON, 1962).
A resistência e luta contra o Apartheid cresceu ao longo das décadas de 50 e 60 do breve século XX, e os dirigentes colectivos do movimento social e político anti-Apartheid, como Walter Sisulu e Oliver Tambo, por exemplo, foram detidos como presos políticos por muitos anos. Em 1976, uma imensa revolta estudantil em Soweto chamou a atenção do Planeta para a brutalidade policial deste regime político e a transnacionalização do ativismo para pôr termo a este arranjo institucional do poder de Estado teve um crescimento exponencial digno de nota. Em 1990, o presidente Frederik de Klerk não teve mais remédio do que vir anunciar a libertação de Nelson Mandela e, daí, a legalização do Congresso Nacional Africano (CNA), principal partido da oposição antissistémica. As negociações e tensões entre governo e líderes da oposição continuaram – ao longo dos anos 90 –, culminando, então, na primeira eleição multirracial da África do Sul, que, em 1994, levaria Nelson Mandela ao Palácio de Governo.
O Apartheid deu lugar a uma oposição internacional e doméstica significativas, resultando em um dos movimentos sociais globais de ativismo transnacional mais influentes de todo o século. Foi alvo de condenação frequente, na Organização das Nações Unidas, e provocou inúmeras sanções internacionais, inclusive embargos de armas e sanções econômicas à África do Sul. Durante as décadas de 70 e 80, a resistência interna tornou-se cada vez mais crescente, provocando repressões esmagadoras, pelo governo do Partido Nacional, e violência sectária prolongada, que deixara milhares de mortos, feridos e detidos. Algumas reformas do sistema foram aí realizadas, inclusive o consentimento da representação política indiana e mestiça no parlamento, mas tais medidas não conseguiram mitigar a maioria do ativismo existente. Entre finais de 80 e início de 90, teve início o pacto bilateral para acabar com a segregação de todo e introduzir leis de maioria. No mesmo período aconteceu a queda do Muro de Berlim, e os actos de Glasnost e da Perestroika foram sucedidos pelo fim do Pacto de Varsóvia e da ex-URSS.
Embora tal regime político se tenha constituído numa questão específica da África do Sul, não é possível compreender o seu sentido mais geral sem levar em conta a história conectada ou global, por um lado e, por outro, a primazia da política extra-institucional nos processos de revolução e contrarrevolução global. Neste sentido, são coordenadas insoslaiáveis para a descrição e a análise da ascensão e da queda do Apartheid o que chamamos por antinacionalismo metodológico (i), centralidade da práxis (ii) e, enfim, um certo desenvolvimento desigual e combinado (iii). Especialmente, deve-se destacar os vários entrelaçamentos – seja from above, de Estados e estruturas de poder, seja from below, de classes e movimentos sociais – da África Austral. Moçambique e Angola, em particular, lutaram contra a ocupação e a interferência da África do Sul durante as suas próprias revoluções sociais anticoloniais. A Rodésia, agora Zimbábue, também foi imensamente atingida pelas políticas do Apartheid e os seus conflitos internos.
“Fazendo numa década o que levaria séculos: a batalha que decidirá o nosso futuro e o futuro do mundo. Todos temos de estar preparados para a batalha final pela África Austral, alerta o general Kaúlza de Arriaga, na última das entrevistas concedidas a Silva Ramalho” – publica o jornal diário Notícias, em Lourenço Marques (5 abril 1973, apud MENESES, 2013). Nesta política de alianças entre a África do Sul, a África lusófona e a então Rodésia, não estava em causa tão-só um horizonte anticomunista, de cima, mas também uma luta em comum pela autodeterminação, de baixo. Os quadros da luta social anti-Apartheid circularam por Moçambique, e o 25 de Abril abriu a possibilidade real de colocar em causa os regimes antidemocráticos. No interior da agitação e propaganda deste ativismo transnacional produziu-se uma potente imagem em que uma hidra de três cabeças tem duas delas decepadas – o colonialismo português e o racismo da Rodésia –, a sugerir que a próxima a rolar seria a do Apartheid.
O trabalho negro forçado, no império colonial português, é a essência do ultracolonialismo, segundo Perry Anderson (MENESES, 2013) “a mais primitiva e mais extremada modalidade colonial”. Com os trabalhadores arraigados à terra, e sob a anemia demográfica da força de trabalho, a única maneira de impor trabalho a tal massa de expropriados fora dos meios de subsistência, longe da terra nas minas de Moçambique ou nas plantações de Angola, era tornar o trabalho compulsório. “Sem ouro não há África do Sul, e sem Moçambique não há ouro”, sentencia Anderson. Sem trabalho negro forçado tão pouco haveria o Estado Novo, no império colonial português, o regime de Apartheid, na África do Sul, ou o governo autocrático, na ex-Rodésia. Davidson (1992) menciona um total de 2,94 milhões de trabalhadores forçados (condenados, contratados ou migrantes). Não à toa, a pena de Ruth First registará como título de seu magnum opus os dizeres críticos “Black Gold – The Mozambican Miner, Proletarian and Peasant (1983). 60% do salário dos moçambicanos a laborar forçadamente nas minas de Ouro da África do Sul era entregue diretamente – em espécie – a Lisboa, e o Estado Novo pagava um quinhão aos operários em moeda local vindo o restante direto aos cofres da metrópole (MATEUS, 2013).
O Apartheid, não sem razão, é considerado um dos mais sombrios capítulos da história da África e do planeta. Urge chamar o mal pelo nome, inclusivamente pelo nome próprio: a “apartação total” é parte deste inventário da barbárie no século XX, e para lá da determinação económica. Trata-se, ainda, de uma história viva de como as políticas estatais de segregação étnico-racial podem causar sofrimento humano persistente e violar qualquer dos direitos os mais fundamentais. A sua abolição foi um importante marco histórico na luta global pelos direitos humanos e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária em todo o mundo. Mas, além da sua constatação formal, advinda de iniciativas como o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, criado pela ONU em memória do fatídico Massacre de Sharpeville/ Joanesburgo, ou da canonização da herança do maior símbolo da oposição ao Apartheid racial, é preciso reconhecer o legado ambivalente do homem que arriscou a sua vida para libertar o povo, de um lado, e não mediu feitos para construir a hegemonia restritiva que mantém um Apartheid social, com a crispação das desigualdades de classe, de gênero e de raça, de outro. Com o CNA no poder, e a beatificação de Mandela em voga, é preciso mais do que uma denúncia moral. É preciso entender por que as coisas passaram de um modo e não de outro.
Um dos momentos-chave a este velho regime foi quando quase dois mil policiais armados com rifles destruíram Sophiatown e, de lá, evadiram seis mil habitantes não-brancos em 1955: a vila multicultural – com jazz, teatro e boémia inter-racial – simplesmente não poderia existir. Nestes momentos da História apercebemo-nos da imbricação entre os sujeitos e as estruturas.
Mas porquê? A economia política do Apartheid (TICKTIN, 1983) não lograria exalar-se às névoas da ideologia geopolítica da World Cold War ou das brumas da mistificação religiosa da Igreja Holandesa Reformada, nem tão-pouco poderia ser exumada às intrincadas paralaxes jurídico-institucionais, dos vários decretos-lei de Estado que o antecedem formalmente. O seu enigma mais recôndito é a superexploração da força de trabalho negra para se produzir mais-valia absoluta branca. Parafraseando a fórmula já clássica de Horkheimer, pode-se dizer, à guisa de remate, que quem não puder se delimitar à acumulação de capital deve calar sobre o Apartheid. “A luta continua!”, como entoa, uma e outra vez, a voz melódica da cantautora Miriam Makeba.
Bibliografia
ADORNO, T. & HORKHEIMER, M. (1985). Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
ALMEIDA, S. (2019). Racismo Estrutural. São Paulo: Jandaíra.
ANDERSON, P. (1962). “Portugal and the End of Ultra-Colonialism”. New Left Review, 15 (maio-jun.), 83-102; 16 (jul.-ago.), 88-123; 17 (inverno), 85-114.
BORDIEU, P. (1979). La Distinction: Critique Sociale du Jugement. Paris: Les Éditions de Minuit.
BRAGA, R. (2017). Rebeldia do Precariado: Trabalho e Neoliberalismo no Sul Global. São Paulo: Boitempo.
CALLINICOS, A. (1993). Race and Class. London: Bookmarks.
CONRAD, J. (2018). Heart of Darkness. Cambridge: Cambridge University Press.
DAVIDSON, B. (1961). Mãe Negra. Lisboa: Sá da Costa.
DAVIDSON, B. (1992). The Black Man’s Burden: Africa & the Curse of Nation-State. Oxford: James Currey.
DELLA SANTA, R. & VARELA, R. (no prelo). “Trotsky, Leon (1879-1940)”. In S. Kirsten (dir.) Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy (3.ª ed.). Dordrecht: Springer Netherlands.
FERNANDES, F. (1978). Integração do Negro na Sociedade de Classes (vol. 1). Lisboa: Ática.
FERREIRA, E. de S. (1974). O Fim de Uma Era: O Colonialismo Português em África. Lisboa: Sá da Costa.
FIRST, R. (1983). Black Gold: The Mozambican Miner, Proletarian and Peasant. London: Palgrave.
GUARDIOLA, N. (2009). “A aliança secreta do Apartheid: Rodésia e Portugal”. África, 21 (jun.), 17-25.
HAIDER, A. (2018). Mistaken Identity. London: Verso.
HALL, S. (1978). “Racism and reaction”. In Five Views of Multi-Racial Britain. London: Commission for Racial Equality.
HIRSON, B. (2016). Year of Fire, Year of Ash: Soweto Schoolchildren’s Revolt. London: Zed.
HORKHEIMER, M. (1939). “Die juden und Europa”. Zeitschrift für Sozialforschung, 8.
LICHSTEIN, A. (2020). “‘Sentimos que nossa força está no chão de fábrica’: Dualismo, poder do chão de fábrica e reforma das leis do trabalho no fim do apartheid na África do Sul”. Mundos do Trabalho, 12, 1-27.
LUXEMBURG, R. (2003). The Accumulation of Capital. London: Routledge.
MARX, K. (2008). “The so-called primitive accumulation”. In Capital (vol 1) (cap. 8). Oxford: Oxford University Press.
MATEUS, D. C. (2013). “El trabajo forzado en las colonias”: Historia, Trabajo y Sociedad, 4, 63-88.
MENESES, M. P. (dir.) (2013). As Guerras de Libertação e os Sonhos Coloniais. Coimbra: Almedina.
MILLS, C. W. (2000). The Sociological Imagination. Oxford: Oxford University Press.
OLIVEIRA, F. (dir.) (2010). Hegemonia às Avessas: Economia, Política e Cultura. São Paulo: Boitempo.
PEARCE, J. (2015). Political Identity and Conflict in Central Angola. Cambridge: Cambridge University Press.
SAUNDERS, C. (dir.) (2020). Historical Dictionary of South Africa. Laham: Rowman.
VAN DER LINDEN, M. (2008). Workers of the World: Essays toward a Global Labour History. Leiden: Brill.
VARELA, R. (2014). A História do Povo na Revolução Portuguesa. Lisboa: Bertrand.
VILLEN, P. (2013). Amílcar Cabral e a Crítica ao Colonialismo. São Paulo: Expressão Popular.
TARROW, S. (2005). The New Transnational Activism. Cambridge: Cambridge University Press.
TEMU, A. (dir.). (2023) Southern African Liberation Struggles: 1960-1994 – The Hashim Mbita Project (vol. 1). Tanzania: Mkuki na Nyota.
TICKTIN, H. (1983). The Politics of Race. London: Pluto Press.
WEBSTER, D. (2009). A Sociedade Chope. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais.
WILLIAMS, R. (1983). Culture and Society: 1780-1950. New York: Columbia University Press.
Autor: Roberto della Santa