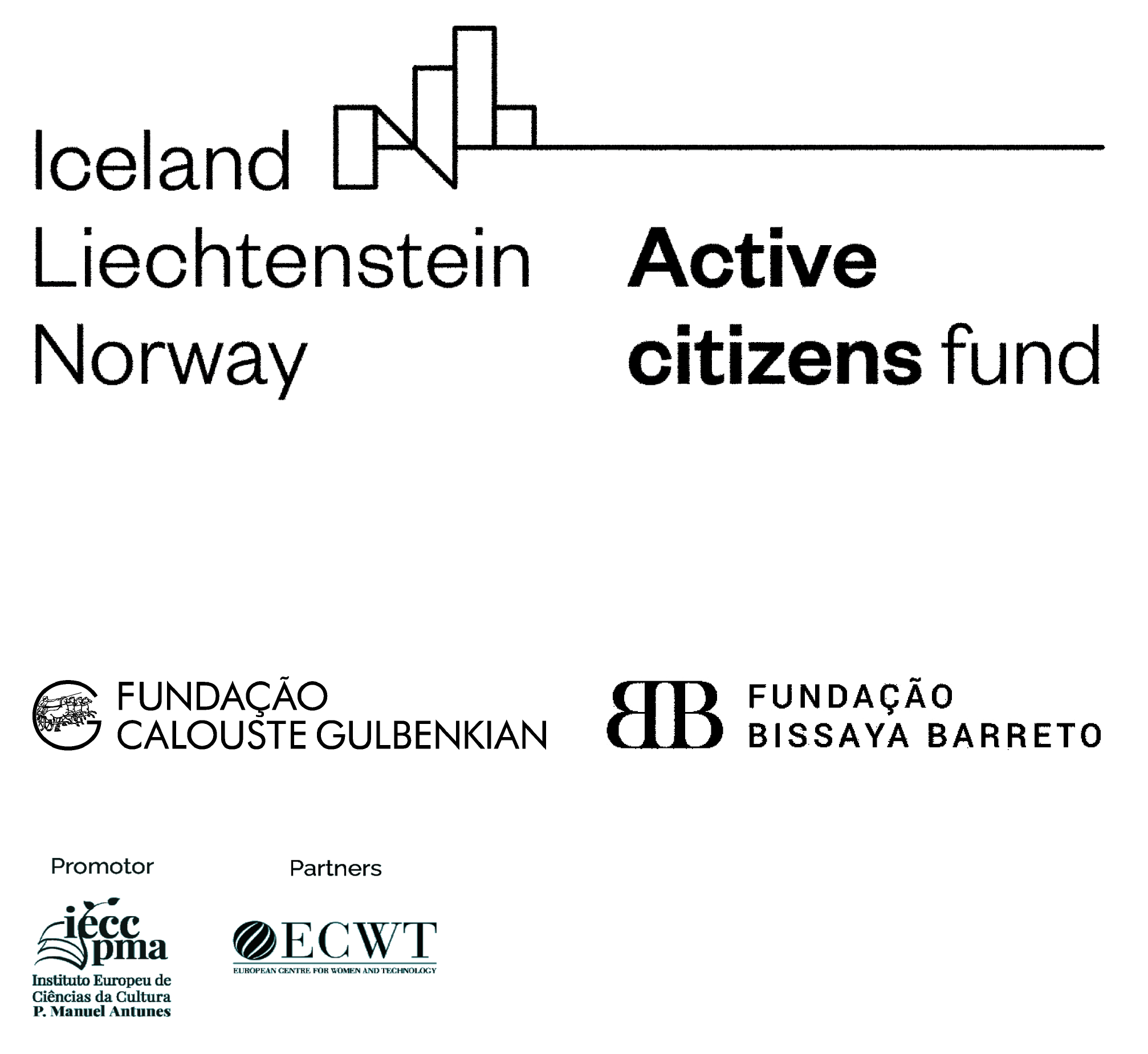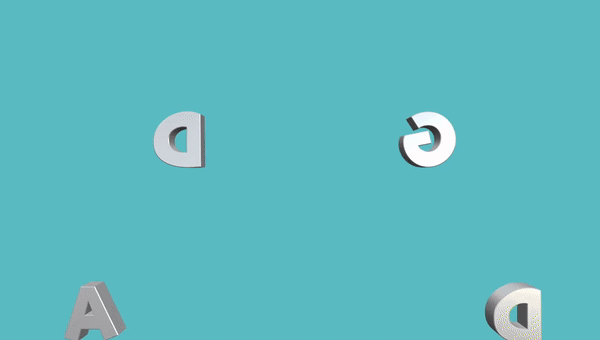Constitucionalismo [Dicionário Global]
Constitucionalismo [Dicionário Global]
O constitucionalismo corresponde à “teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade”; é uma “teoria normativa da política” (CANOTILHO, 2018, 51). A definição aqui apresentada evidencia o cerne do constitucionalismo: a organização político-social que limita o poder de governo, enquanto pilar das garantias individuais, num movimento de ideias de cariz pactício, que serve de fonte à criação de uma constituição.
A constituição em sentido moderno (enquanto “ordenação sistemática e racional da comunidade política através de um documento escrito no qual se fixam os limites do poder político” (CANOTILHO, 2018, 52)) encontra a sua fonte no movimento constitucional que conhece coordenadas espaciais, temporais e culturais distintas e dispersas, o que justifica que, em bom rigor, a referência deva ser feita a constitucionalismos (o constitucionalismo americano, o constitucionalismo francês, o constitucionalismo inglês, o constitucionalismo português) e a movimentos constitucionais, numa sucessão de factos históricos. A circunstância de se reconhecer a existência de uma sucessão de acontecimentos permite qualificar o constitucionalismo não como um facto, mas sim como um processo que conta com a intervenção de diversos sujeitos e que depende da historicidade.
O constitucionalismo surge, então, como uma “resposta normativa” à necessidade de (i) assegurar a existência de uma “sociedade civil”, sem que uns se sintam ameaçados por outros; para (ii) formalizar um modelo de contrato social que assente no imperativo categórico enquanto valor universal; (iii) com o propósito de limitar o poder do Estado perante os indivíduos; (iv) para balizar o poder de ingerência das maiorias em espetos da autonomia privada e da autodeterminada de cada um; (v) com o fim de impor um modelo de justiça baseado na igualdade de oportunidades; (vi) para construir um projeto político assente em valores democráticos (SILVA, 2016, 21).
Historicamente, a relevância da organização e da limitação do poder surge como um problema central na transição da época medieval para o Estado moderno perante a influência dos postulados Iluministas, afastando a desigualdade que marcava a sociedade de então, estratificada e crente em poderes sobre-humanos. E numa aceção histórico-descritiva, o constitucionalismo moderno designa “o movimento político, social e cultural que, sobretudo a partir de meados do século XVIII, questiona nos planos político, filosófico e jurídicos os esquemas tradicionais de domínio político, sugerindo, ao mesmo tempo, a invenção de uma nova forma de ordenação e fundamentação do poder político” (CANOTILHO, 2018, 52). Por oposição, o constitucionalismo antigo corresponde “ao conjunto de princípios escritos ou consuetudinários alicerçadores da existência de direitos estamentais perante o monarca e simultaneamente limitadores do seu poder” (CANOTILHO, 2018, 52).
A partir do século XX, e fruto dos problemas políticos associados às crises económicas (que se encontram também na origem das duas guerras mundiais), surge uma tendência de acrescentar ao constitucionalismo soluções para novos problemas reportados à relação do Estado com a economia e entre a economia e a política, no contexto de um movimento que ficou conhecido como neoconstitucionalismo. Assim, para além da organização e da limitação do poder, o constitucionalismo comporta uma dimensão material perante o reconhecimento de valores tidos, em determinados momentos históricos, como fundamentais. São estas as dimensões que lhe atribuem sentido, garantido a revelação de uma constituição, ela própria erguida pela natureza do constitucionalismo: uma constituição é, em regra, um instrumento pactício entre iguais (sem prejuízo de constitucionalismos antigos em que o pacto surge entre partes desiguais, tal como sucedeu no constitucionalismo britânico, e ao contrário dos constitucionalismos revolucionários do século XVIII, como o norte-americano e o francês).
A extensão que o movimento constitucional atinge justifica a emergência dos conceitos constitucionalismo global e transconstitucionalismo. O constitucionalismo global é caracterizado, sobretudo, pela “emergência de um jus cogens internacional materialmente informado por valores, princípios e regras universais progressivamente plasmados em declarações e documentos internacionais e pela tendencial elevação da dignidade humana a pressuposto ineliminável de todos os constitucionalismos” (CORREIA, 2016, 13). O transconstitucionalismo aponta para a existência de “casos-problemas jurídico-constitucionais cuja solução interessa, simultaneamente, a diversos tipos de ordem jurídicas envolvidas” (CORREIA, 2016, 14), fruto da complexidade das circunstâncias factuais, que se movimento num quadro jurídico-normativo multinível, num contexto de “transconstitucionalismo pluridimensional” (NEVES, 2012, 107). Neste sentido, estudar o constitucionalismo do século XXI implica necessariamente compreender as relações cada vez mais complexas entre o Direito Constitucional, o Direito Internacional e o Direito Europeu, perante a perda de exclusividade do Estado no domínio constitucional. Defrontamo-nos com novas dimensões da ideia de Constituição, que já não se confundem com a lógica clássica do Estado nacional. Surgem questões constitucionais “para além do Estado” (CASSESE, 2016). Pergunta-se se será admissível uma “Constituição sem Estado” (HABERMAS, 2012). Neste sentido, o poder constituinte que, nos primórdios do liberalismo, se encontrava indissociavelmente ligado ao Estado, passa a assumir também uma dimensão internacional e europeia, o que poderá justificar o alargamento do próprio conceito de constituição, no sentido de abranger e conciliar os diversos níveis de regulação essencial da divisão de poderes e da proteção dos direitos fundamentais. Surge, assim, uma “comunidade constitucional sui generis”, ainda em formação, com uma pluralidade de constituições parciais nacionais, atribuindo-se ao Direito comparado um papel decisivo (HÄBERLE, 2013, 41). O constitucionalismo multinivelado ou plural (MADURO, 2006, 15) implica, precisamente, a conjugação e a compatibilização de sucessivas “camadas” de proteção jurídica, em distintos “patamares constitucionais”.
Encontra-se, ainda, também no século XXI, a referência à expressão constitucionalismo heterónimo, subjacente a experiências constituintes muito particulares e que se devem aos contributos de instituições internacionais, tal como sucedeu com a Constituição da República Democrática de Timor-Leste, de 2002, que surgiu sob um mandato da ONU.
Particularmente no que concerne às raízes do moderno constitucionalismo português, residem as mesmas na Revolução Liberal de 1820 e na Constituição de 1822, erguida à luz de várias influências externas e de diversos acontecimentos nacionais (as movimentações liberais de 1817 ou a criação do Sinédrio em 1818). A instauração da república, em 1910, trouxe um desenho constitucional que pode ser entendido como o expoente e o coroamento do liberalismo democrático português, apesar da abordagem marcadamente laicista e anticlerical. Surge, então, o período do constitucionalismo antiliberal, antidemocrático, antiparlamentar e antipartidário, que se inicia em 1926 e que se prolonga até ao golpe de Estado de 25 de abril de 1974. Desde então e até aos dias de hoje, vive-se o período de constitucionalismo para-democrático e democrático.
Far-se-á, agora, a uma sintética exposição que procurará assinalar, tão só, a forma como os direitos fundamentais conheceram, até à Constituição da República Portuguesa de 1976, acolhimento constitucional em Portugal:
- Constitucionalismo liberal – os três primeiros textos constitucionais portugueses (a Constituição de 1822, a Carta Constitucional de 1826 e a Constituição de 1838) apresentam, entre si, linhas de continuidade bem marcadas quanto ao sistema de direitos fundamentais, reconduzidas às ideias de liberdade, segurança e Tais linhas assentam na perspetiva individualista do catálogo e da titularidade de direitos; na predominância de liberdades e de posições negativas em relação ao Estado; e na ausência de garantias de defesa e controlo eficientes dos direitos fundamentais;
- Constitucionalismo republicano: a instauração da república em Portugal e a consequente aprovação de um novo texto constitucional não trouxe significativas mudanças para o sistema de direitos fundamentais, que continuou a ser perspetivado na lógica de um Estado liberal abstencionista, mínimo e garantidor de liberdades individuais de cariz cívico e político. Não obstante, a Constituição de 1911 não deixa de representar um avanço quantitativo e qualitativo em matéria de direitos fundamentais;
- Constitucionalismo autoritário: a Constituição de 1933 significou um retrocesso ao nível dos direitos fundamentais. Apesar do extenso catálogo de direitos e liberdades, o Estado “forte” impediu que grande parte das garantias estabelecidas conhecesse concretização. Foi instituído um regime autoritário, tradicionalista e inimigo das liberdades individuais, tendo o texto constitucional adquirido um valor puramente semântico.
Bibliografia
CANOTILHO, J. J. G. (2018). Direito Constitucional e Teoria da Constituição (7.ª ed., 7.ª reimpr.). Coimbra: Almedina.
CASSESE, S. (2006). Oltre lo Stato. Roma: Editori Laterza.
CORREIA, F. A. (2016). Justiça Constitucional. Coimbra: Almedina.
HÄBERLE, P. (2013). Cartas Pedagogicas a Un Joven Constitucionalista. Bissendorf: European Research Center of Comparative Law.
HABERMAS, J. (2012). Sobre a Constituição da Europa: Um Ensaio. Trad. D. L. Werle et al. São Paulo: UNESP.
LOEWEBSTEIN, K. (1975). Teoria de la Constitution. Barcelona: Editorial Ariel.
NEVES, M. (2012). “Transconstitucionalismo: Breves considerações com especial referência à experiência latino-americana”. In Tribunal Constitucional – 35.º Aniversário da Constituição de 1976 (vol. II). Coimbra: Coimbra Editora.
SILVA, S. T. (2016). Direito Constitucional (vol. I). Coimbra: Instituto Jurídico – Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Autora: Andreia Barbosa