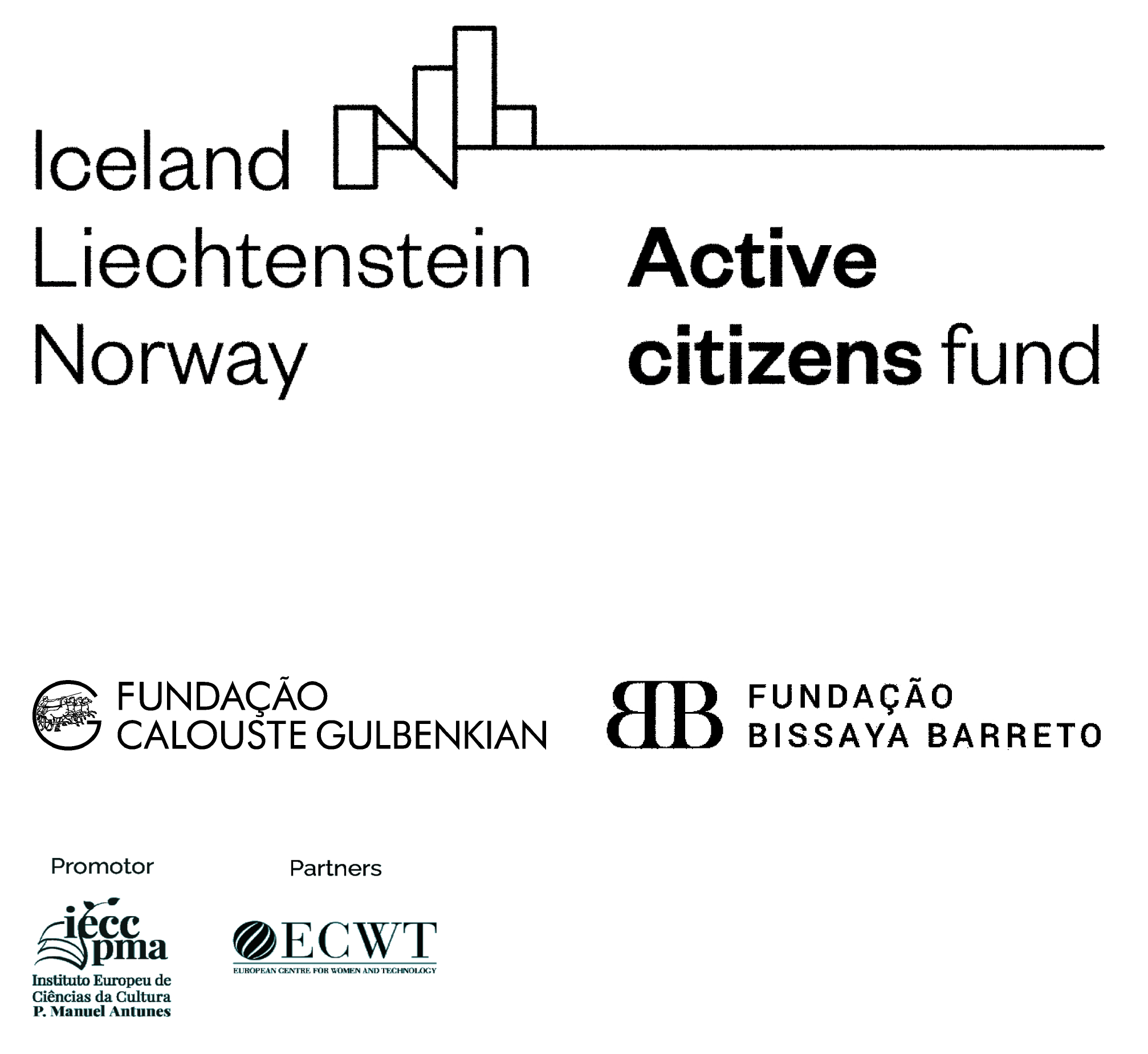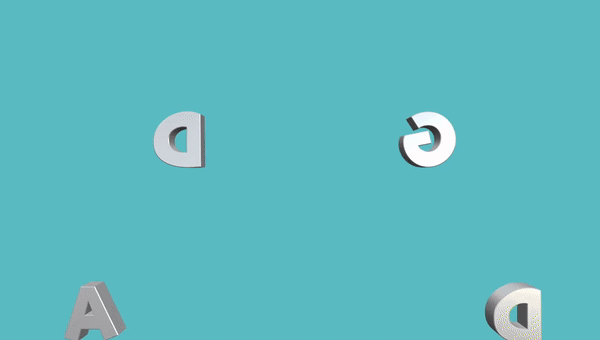Convenção de Genebra [Dicionário Global]
Convenção de Genebra [Dicionário Global]
Introdução
A Convenção de Genebra, de 1864, cuja designação completa é Convenção de Genebra para Melhorar a Sorte dos Militares Feridos nos Exércitos em Campanha, pode ser considerada o documento fundador do Direito Internacional Humanitário. Até então existiam já normas reguladoras dos comportamentos em situação de guerra que estavam inseridas nos regulamentos militares de cada Estado, pelo que só às forças armadas desses Estado eram aplicáveis. Aliás, a este propósito cabe destacar o muito complexo Código Lieber, cuja designação oficial era Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field, promulgado em 1863, pelo presidente Lincoln, em plena Guerra da Secessão, pelo que, sendo um instrumento interno, era aplicável a ambas as partes (norte-americanas) em conflito. Apesar da sua relevância, faltava-lhe, portanto, o carácter internacional que a Convenção de Genebra de 1864 lhe conferiu.
Antecedentes da adoção da Convenção
Para a adoção desta Convenção, foi decisivo o papel de Henry Dunant (Genebra, 8 de maio de 1828 – Heiden, Suíça, 30 de outubro de 1910). Pertenceu a uma família abastada, foi educado com fortes convicções cristãs (calvinistas) e arreigados princípios morais, tendo participado em vários movimentos religiosos e caritativos, procurando dar de apoio, quer material, quer espiritual, a grupos carenciados, como pobres, doentes, detidos, entre outros.
Tendo-se tornado homem de negócios, criou uma empresa na Argélia, então colónia francesa, a Société Financière et Industrielle des Moulins des Mons-Djémila. No entanto, tendo tido alguns problemas com as autoridades daquela colónia, decidiu encontrar-se diretamente com Napoleão III, imperador da França. Para o efeito, teve de se deslocar a Solferino, no norte da Península Itálica, onde estava a ser travada a Batalha de Solferino, a 24 de junho de 1859. Esta batalha, de uma violência brutal, que fez centenas de milhares de mortos, foi travada entre a França, apoiando Piemonte-Sardenha, que havia sido invadido pela Áustria, por um lado, contra este último país (a Áustria), por outro; e insere-se na guerra travada com vista à criação do Estado italiano, no contexto da afirmação do princípio das nacionalidades, que conduziu a uma redefinição do mapa político da Europa em vários locais. Quando Dunant chegou, ainda decorria a batalha. Chocou-o profundamente a brutalidade da luta e o facto haver tantos feridos sem tratamento, atendendo à angustiante insuficiência dos serviços de saúde, pelo que fez o que pôde – apesar de não ter formação médica – para aliviar o seu sofrimento. Mais incomodado ficou ao aperceber-se – apesar dos bons exemplos que também testemunhou – de que um médico francês não socorria um soldado ferido austríaco, e vice-versa. Contrariando o entendimento que conduzia a tal atuação, sustentou que se tratava de homens que não estavam em armas, apenas em sofrimento, e este não era francês ou austríaco… apenas humano.
Depois desta experiência, Henry Dunant escreve o livro Un Souvenir de Solférino (a versão portuguesa tem por título Memórias de Solferino). Nele, o autor começa por transmitir as suas impressões relativamente à situação com que deparou, fazendo uma narrativa bastante exaustiva e emocionada da batalha e da situação vivida pelos feridos e agonizantes. Descreveu, ainda, o esforço que fez para levar o socorro e alívio possíveis aos feriados que foram recolhidos em Castiglione, perto de Solferino, em particular numa igreja que designou por Chiesa maggiore, e como se lhe juntaram as mulheres da terra nesse auxílio, afirmando que “as mulheres de Castiglione, vendo que não fiz nenhuma distinção entre as nacionalidades, seguiram meu exemplo, demonstrando a mesma amabilidade para todos esses homens cujas origens eram tão diferentes, e que eram estrangeiros para todas elas. ‘Tutti fratelli’, repetiam emocionadas”. Já na parte final desta obra, lança um repto: “Mas por que contei todas essas cenas de dor e infortúnio, despertando, talvez, dolorosas emoções em meus leitores? […] Esta é uma questão natural. Talvez eu possa respondê-la com outra: Nos períodos de paz e tranquilidade, não seria possível criar sociedades de socorro com vistas a oferecer cuidados para os feridos em tempos de guerra, por parte de voluntários perfeitamente qualificados, zelosos e devotados para uma tal obra?” (DUNANT, s.d., 67, 113). E, nesse sentido, propõe que fosse subscrita uma convenção que viesse a servir de base para a implementação de sociedades de socorro a feridos nos diferentes países europeus (cf. Dunant, s.d., 124).
Esta obra teve larga difusão na Europa e as ideias que difundia foram bem acolhidas, num século em que uma das correntes de pensamento importantes – o Romantismo – induzia a uma sensibilização relativamente ao sofrimento humano. De entre os que apoiaram as propostas de Dunant, destaca-se a Societé d’Utilité Publique, de Genebra, então presidida por Gustave Moynier, também ele homem preocupado com problemas sociais, que se encontrou com Dunant, tendo acordado, em 1863, a criação de um comité de cinco pessoas para estudar a viabilidade da proposta por ele formulada. Este comité, conhecido por Comité dos cinco, integrava, para além de Dunant e Moynier, o General Dufour e os médicos Louis Appia e Théodore Maunoir, e viria, mais tarde, a converter-se em Comité Internacional da Cruz Vermelha. Para além disso, a obra foi também bem acolhida em várias cortes europeias.
A adoção da Convenção
Em 1864, com o apoio do Governo suíço, reuniu-se, a partir de 8 de agosto de 1864, uma conferência diplomática em Genebra, com a presença de representantes de 16 países europeus e observadores dos Estados Unidos da América. E, a 22 de agosto, os representantes de 12 chefes de Estado europeus (rei dos belgas, grão-duque de Baden, rei da Dinamarca, rainha da Espanha, imperador dos franceses, grão-duque de Hesse, rei da Itália, rei dos Países Baixos, rei de Portugal e Algarve, rei da Prússia, a Confederação Suíça, rei de Wurtermberg) subscreveram a Convenção de Genebra para melhorar a sorte dos militares feridos nos exércitos em campanha, que entrou em vigor menos de um ano depois (a 22 de agosto de 1865). A ela viriam a aderir vários outros Estados, pelo que chegou a vincular 57 Estados em diferentes pontos do globo, o que foi algo de notável, atendendo a que que foram adotadas novas convenções sobre a mesma matéria, que a desenvolviam (nomeadamente uma convenção adotada em Genebra em 1906, uma outra adotada na mesma cidade, em 1929, e, por fim, a I Convenção de Genebra, de 1949, para Melhorar a Situação dos Feridos e Doentes das Forças Armadas em Campanha). Apesar disso, pode dizer-se, a Convenção de Genebra de 1864 só cessou a sua vigência na data em que o último dos seus Estados Partes (a República da Coreia (Coreia do Sul)) acedeu à referida Convenção de 1949 (a 16 de agosto de 1966), de acordo com o art. 59.º desta Convenção.
O conteúdo da Convenção
Tendo em conta os propósitos que conduziram à adoção desta convenção, não surpreende que várias das suas parcas disposições (a convenção tem apenas dez artigos, sendo os três últimos relativos à regulamentação das disposições da Convenção, à possibilidade de adesão e à ratificação da convenção, respetivamente) incidam sobre a questão da neutralidade dos socorristas. É assim que o art. 1.º estabelece a neutralidade de ambulâncias e hospitais militares que, como tal, devem ser protegidos e respeitados pelos beligerantes, durante todo o tempo em que abriguem doentes e feridos, neutralidade essa que cessará se forem controlados por forças militares. Também deve ser reconhecida a neutralidade às “equipas dos hospitais e das ambulâncias, incluindo a intendência, os serviços de saúde, de administração, de transporte, assim como os capelães”, sempre que estejam em serviço e haja feridos a recolher ou a assistir (art. 2.º), devendo estas pessoas poder continuar a desenvolver as suas funções no hospital ou no serviço ambulante em que prestam serviço, mesmo que se verifique uma situação de ocupação (o que se traduz na manutenção da neutralidade enquanto estão no exercício de funções); ou podem retirar-se para se juntarem às unidades a que pertencem. No caso de cessarem funções, devem ser entregues, pelo exército ocupante, aos postos avançados inimigos (art. 3.º). O art. 4.º, referindo-se ainda a bens e pessoas dedicados ao socorro, determina que, atendendo a que o material dos hospitais militares é sujeito às leis da guerra, quando as pessoas que estão em serviço nesses hospitais se retiram, apenas podem levar consigo os objetos que são de sua propriedade; e que, em circunstâncias semelhantes, os serviços ambulantes de saúde devem, pelo contrário, ficar com seu equipamento.
Por seu lado, o art. 5.º refere-se à população do país que leva socorro aos feridos e determina-se que a mesma deve ser respeitada e permanecer livre; e ainda que os generais das potências beligerantes têm o dever de informar a população sobre o apelo feito ao seu sentimento de humanidade e da neutralidade a ser conferida à sua conduta humanitária. Afirma-se, portanto, a neutralidade daqueles que prestam socorro, independentemente de qualquer vínculo, a algum dos exércitos. Por outro lado, e para melhor garantir o socorro aos feridos, prevê-se que, se um ferido receber abrigo e cuidados numa casa particular, por essa razão, a casa em questão deve ser salvaguarda; e o morador dessa casa dispensado de alojar tropas, bem como de uma parte dos tributos de guerra que sejam cobrados.
O art. 6.º afirma a neutralidade dos militares feridos ou doentes, determinando que os mesmos devem se recolhidos e tratados, independentemente da nação a que pertençam. Concede-se aos comandantes em chefe a faculdade de enviar imediatamente aos postos avançados inimigos os militares inimigos feridos durante o combate, logo que as circunstâncias o permitam e haja o consentimento de ambas as partes. Por outro lado, aqueles que foram curados, mas não estejam em condições de continuar ao serviço, deveram ser reenviados ao seu país; os demais podem também ser reenviados, na condição de não retomarem as armas enquanto durar a guerra. Mais uma vez, é afirmada uma “neutralidade absoluta” em relação às evacuações, assim como ao pessoal que as dirige.
Por fim, o art. 7.º é aquele que cria o emblema da Cruz Vermelha. Reza assim: “Uma bandeira distintiva e uniforme será adotada pelos hospitais e ambulâncias, bem como durante as evacuações. Ela deverá ser, em qualquer circunstância, acompanhada da bandeira nacional. Uma braçadeira será igualmente admitida para o pessoal neutro, mas a sua distribuição ficará a cargo da autoridade militar. A bandeira e a braçadeira terão uma cruz vermelha sobre fundo branco”. A criação deste emblema foi da maior importância para garantir a efetivação da neutralidade afirmada em favor de pessoas e bens dirigidos ao socorro. Efetivamente, as guerras no século XIX eram travadas em campos de batalha, o que implicava que, à partida, só lá se encontravam aqueles que iam combater. O problema era que, para além deles, estavam também os socorristas de cada um dos exércitos, que podiam ser alvo do fogo inimigo, precisamente porque não se sabia que se tratava de pessoas e bens que não se encontravam no terreno para participar no combate, mas para prestar socorro a quem ficava ferido. Daí a relevância da proposta de criar um emblema (quer na bandeira, quer na braçadeira) que fosse distintivo, o que implicava que permitisse distinguir quem o usava ou os materiais por ele assinalados, de modo a que quem atacasse tivesse claramente a perceção de quem estava protegido por esse emblema; por outro lado, o emblema devia ser uniforme e, portanto, ser o mesmo emblema a ser usado por todos os exércitos, de modo a que todos o reconhecessem, o que não sucederia se fosse criado um para o exército de cada Estado. A este propósito, refira-se que o império otomano, que começara por aceitar o referido emblema, ao aderir, logo em 1865, à Convenção em análise, veio, por nota de 16 de novembro de 1876, declarar que, daí em diante, passaria a adotar o símbolo do Crescente Vermelho, visando preservar a identidade muçulmana no Movimento, vendo na Cruz um símbolo cristão. Obviamente, não havia qualquer conotação religiosa na escolha do símbolo (os próprios contornos da cruz afastam esse entendimento), pelo que, no art. 18.º da supra referida Convenção de Genebra de 1906, se afirma: “Em homenagem à Suíça, o sinal heráldico da cruz vermelha sobre fundo branco, criado a partir da inversão das cores federais, é mantido como emblema e sinal distintivo do serviço sanitário dos exércitos”. E esta referência à bandeira da Suíça bem se percebe, não só porque foi o país que acolheu a conferência diplomática que conduziu à adoção da Convenção de 1864, bem como a sede da instituição que viria a ser o Comité Internacional da Cruz Vermelha, mas também porque, atendendo à relevância que a neutralidade assumiu na Convenção e como princípio orientador da ação deste novo organismo, fazia todo o sentido que o emblema em causa partisse da bandeira de um Estado cuja neutralidade havia sido reconhecida no Congresso de Viena de 1815. Apesar disso, o crescente vermelho perdura como emblema reconhecido pela instituição.
Nota final
Esta convenção foi, portanto, o arranque de um novo ramo dentro do Direito Internacional – o Direito Internacional Humanitário – com o intuito de atenuar o sofrimento em situação de guerra, a que se seguiram muitas outras – várias dezenas – que se inserem nesta vertente do Direito Internacional E pelo mérito de Henry Dunant para este objetivo, foi-lhe atribuído – em parceria com Frédéric Passy – o primeiro Prémio Nobel da Paz, em 1901, “pelos seus esforços humanitários para ajudar sodados feridos e criar entendimento universal”.
Bibliografia
BOISSIER, P. (1959). “De Solférino à la Convention de Genève”. Revue Internationale De La Croix-Rouge, 41(486), 271-280.
Borda, A. Z. (2008). “Introduction to International Humanitarian Law”. Commonwealth Law Bulletin, 34 (4), 739-748.
Dunant, H. (s.d.). Un Souvenir de Solférino. Comité International de la Croix-Rouge, https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/publications/icrc-001-0361.pdf (acedido a 26.02.2024).
Greenwood, C. (2009). “Historical Development and Legal Basis”. In D. Fleck (ed.). The Handbook of International Humanitarian Law (1-45). (2.ª ed.). Oxford: Oxford University Press.
Pereira, M. de A. do V. (2014). Noções Fundamentais do Direito Internacional Humanitário. Coimbra: Coimbra Editora.
Autora: Assunção Pereira