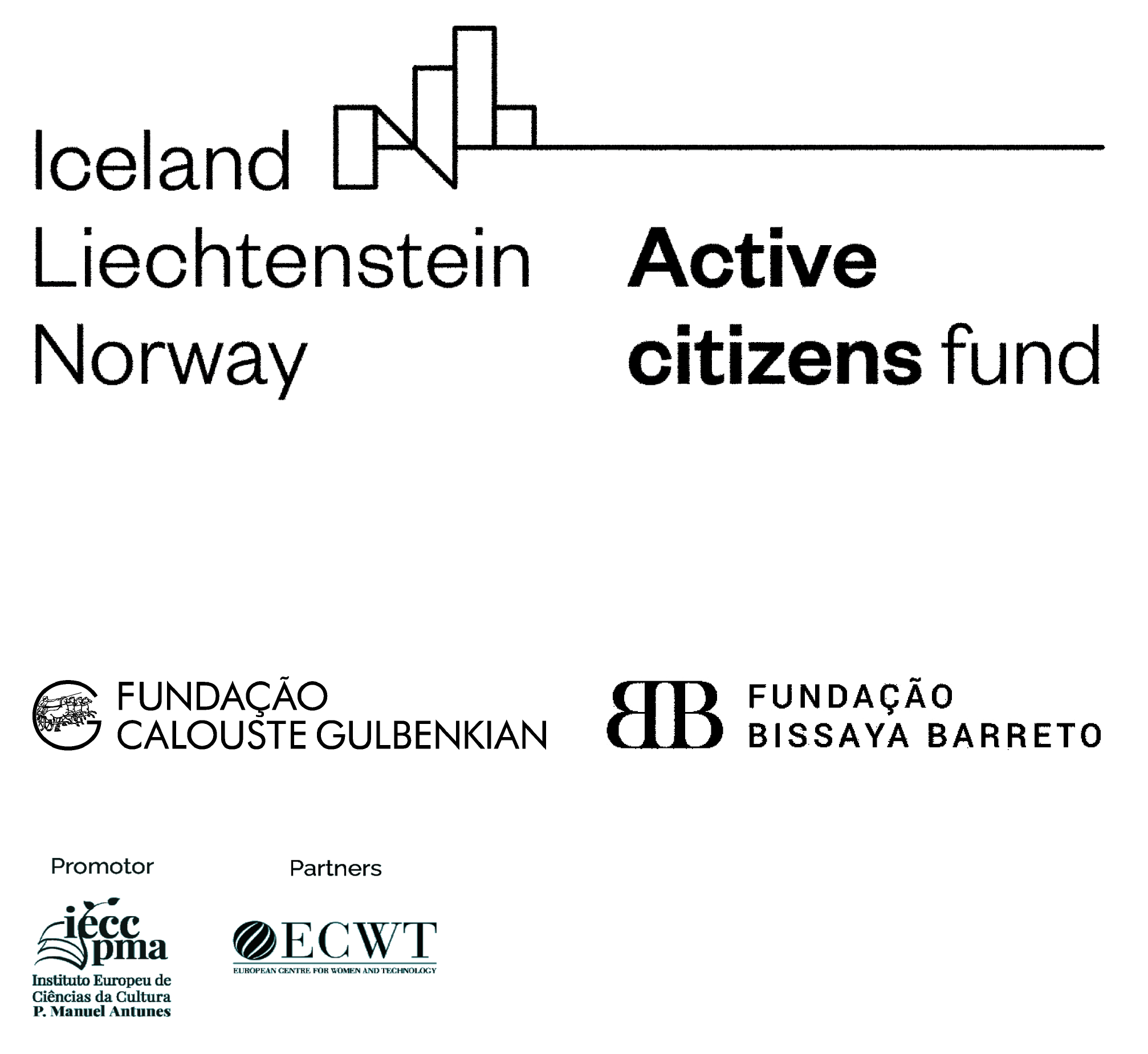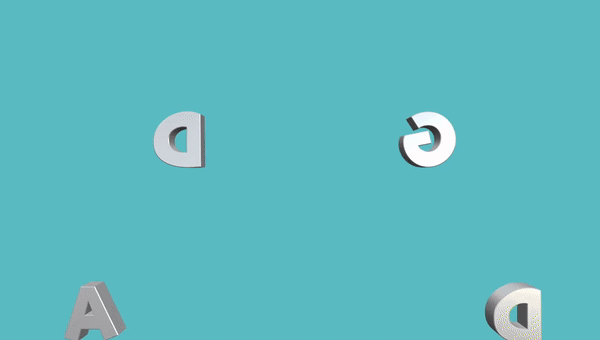Direitos da Criança [Dicionário Global]
Direitos da Criança [Dicionário Global]
De acordo com o art. 1.º da Convenção sobre os Direitos da Criança, “criança é todo o ser humano menor de 18 anos, salvo se, nos termos da lei que lhe for aplicável, atingir a maioridade mais cedo”.
A criança é, nos nossos dias, perspetivada pelo Direito como pessoa, como verdadeiro sujeito de direito, como titular de direitos fundamentais. A criança deixou de ser vista como mero sujeito passivo, objeto de decisões de outrem, sem qualquer capacidade para influenciar a condução da sua vida, e passou a ser vista como sujeito de direitos, ou seja, como sujeito ativo, com uma autonomia progressiva no exercício dos seus direitos em função da sua idade, maturidade e desenvolvimento das suas capacidades (MARTINS, 2004, 69).
A consciência da especificidade da infância, da sua especial natureza, o reconhecimento das suas particulares necessidades, a descoberta da qualidade de pessoa da criança, merecedora do respeito da sua dignidade, titular de direitos fundamentais tal como o adulto, só se operou efetivamente no século XX. “O século XX foi considerado o século da criança por ter sido o período em que se formalizaram os direitos fundamentais de proteção à infância, reconhecendo nela imaturidade física e mental para o fazer e, por conseguinte, exigindo uma proteção legal adequada, antes e depois do seu nascimento” (“Os direitos das crianças”).
A expressão “direitos da criança” aparece pela primeira vez num texto internacional: a Declaração dos Direitos da Criança, adotada pela Assembleia da Sociedade das Nações a 26 de setembro de 1924, em Genebra, visando que “a criança tenha uma infância” (“Os direitos das crianças”). A esta Declaração seguiu-se a Declaração Universal dos Direitos da Criança adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a 20 de novembro de 1959. Começou a assistir-se à passagem de um modelo assistencial e autoritário, que encarava a criança como menor, como ser passivo, mero objeto de proteção, para um modelo participativo e democrático, promotor dos direitos da criança, encarada como sujeito de direitos dotado de uma autonomia progressiva na condução da sua vida. É com a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a 20 de novembro de 1989, que aquela passagem se confirma, reconhecendo-se à criança a capacidade de autodeterminação.
Encontramos hoje uma preocupação crescente com a proteção da criança. As responsabilidades parentais consagradas constitucionalmente no art. 36.º, n.º 5, da Constituição da República Portuguesa (CRP), têm o seu exercício vinculado ao interesse do filho. Por isso, se o seu exercício for abusivo, se houver violação dos direitos das crianças, o Estado e a sociedade devem intervir para defesa dos mesmos direitos (art. 69.º da CRP), podendo haver limitação ou exclusão do exercício das responsabilidades parentais (art. 36.º, n.º 6, da CRP).
A evolução do respeito pelos direitos da criança acompanha a possibilidade de controlo do exercício das responsabilidades parentais, que não podem ser exercidas arbitrariamente. A criança passou a ser vista como sujeito de direitos e não como mero objeto de proteção. De uma situação em que os filhos eram propriedade do pai/adulto, passou-se para uma realidade em que à criança são reconhecidos direitos e é conferido um certo grau de autonomia.
A criança é, também, menor: ou seja, significa não ter ainda completado os 18 anos de idade (idade da maioridade civil), nem ter sido emancipado pelo casamento (arts. 122.º e 132.º do Código Civil). Porém, a expressão “menor” começou progressivamente a ser posta em causa. Com efeito, traduz uma ideia de inferioridade do sujeito que designa, tendo uma conotação desvalorizante e discriminatória. Tal ideia tem-se demonstrado manifestamente incompatível com o reconhecimento da criança como pessoa, como sujeito de direito. Na verdade, a criança não é um ser humano inferior, é um ser humano que, apesar da especial vulnerabilidade que apresenta, possui igual dignidade e até mais direitos do que os adultos. A utilização da expressão “criança” é reflexo de uma nova forma de a olhar que o Direito tem procurado adotar à medida que tenta acompanhar a evolução da conceção da criança pela sociedade (sobre a alteração de paradigma no uso da linguagem nesta matéria, confira-se a proposta de lei n.º 338/XII: “Sinaliza-se, pela relevância que assume, a atualização terminológica de conceitos como o de ‘menor’ e de ‘poder paternal’, que são substituídos pelos conceitos de ‘criança’ e de ‘responsabilidades parentais’, respetivamente”).
No Direito Romano primitivo, a patria potestas era um direito absoluto do pater sobre os filhos, mas também sobre a mulher, os escravos e o seu património. Tratava-se de um poder absoluto e perpétuo, que não desaparecia com a maioridade do filho e que incluía o direito de matar os filhos a título punitivo, de vendê-los ou cedê-los a título de ressarcimento dos danos (ALMEIDA, 1968, 34; MOREIRA, 2001, 162). Portanto, o filho, menor ou maior, não detinha direitos sobre um património, pertencendo tudo ao pater familias. Na conceção germânica do “poder paternal”, o pai detinha a Munt sobre o filho, ou seja, não se tratava já de um poder absoluto, incluindo agora um dever de proteção, mas o pai podia também administrar e usar o património do filho. Era um conjunto de direitos e deveres que terminava quando o filho tivesse vida económica independente.
“A Idade Média parece ter perdido a consciência da especificidade da infância, de tal modo que até os pintores, quando figuravam crianças, desenhavam corpos pequenos com cara de adultos” (OLIVEIRA, 2001, 216). Não havia o reconhecimento da criança como pessoa. No século XVI, o filho continuava sujeito ao poder ilimitado dos pais, sendo a criança ignorada, abandonada, não lhe sendo reconhecido qualquer estatuto especial face aos adultos, atendendo às suas necessidades e direitos. Mas, nos séculos XVI e XVII, os reformadores moralistas e os colégios das ordens religiosas recuperaram o sentimento da infância, a ideia de que a criança tem sentimentos e necessidades específicos da sua idade e diferentes dos dos adultos (OLIVEIRA, 2001).
Em Portugal, o art. 137.º do Código Civil de 1867 atribuía o poder paternal a ambos os progenitores, mas era apenas exercido pelo pai (art. 138.º). O interesse dos filhos estava consagrado na lei processual (art. 1455.º do Código de Processo Civil de 1939), prevendo o art. 141.º do Código de Seabra a possibilidade de punição dos pais em caso de abuso do poder paternal e a possibilidade de inibição do seu exercício (GONÇALVES, 1930, 372-376). Com a Revolução Industrial, o crescimento dos centros urbanos, a progressiva autonomização económica dos filhos e da mulher, etc., a autoridade do pai começa a ser posta em causa e o princípio da igualdade dos cônjuges começa a ganhar consistência. Em todo o caso, o pai mantinha a sua hegemonia, chegando mesmo a defender-se a necessidade da existência de um pai cuja autoridade fosse incontestável para o bom desenvolvimento da criança (MOREIRA, 2001, 164). Mas se o Código Civil de 1966 ainda manteve a estrutura autoritária tradicional do poder paternal como poder-sujeição, tal como no Código de Seabra, a reforma de 1977 alterou substancialmente o poder paternal. Se já no Código Civil de 1966 o conceito de poder paternal surgia vinculado ao interesse dos filhos, o que limitava o seu exercício, a reforma de 1977 fixa o princípio de que os pais devem ter em conta a opinião dos filhos, de acordo com a sua maturidade, nos assuntos familiares importantes e conceder-lhes autonomia na organização da própria vida (art. 1878.º, n.º 2). Mais tarde, a lei n.º 61/2008, de 31 de outubro, substituiu a expressão “poder paternal” por “responsabilidades parentais”, respondendo a um anseio já há muito reivindicado na doutrina. Os filhos assumem o papel principal nas responsabilidades parentais, sendo sujeitos autónomos dos pais, mas protegidos por eles.
As responsabilidades parentais são o conjunto dos poderes-deveres que competem aos pais relativamente à pessoa e aos bens dos filhos, situação jurídica complexa, em que existem poderes funcionais, ao lado de puros e simples poderes. Trata-se de um conjunto de faculdades de conteúdo altruísta, exercidas no interesse dos filhos e sob a vigilância da ordem jurídica, visando como objetivo principal a proteção e promoção dos interesses do filho, com vista ao seu desenvolvimento integral (cf. LEANDRO, 1986, 119; MENDES, 1991, 339-340; SANTOS, 1999, 511).
O conteúdo das responsabilidades parentais modificou-se porque também se criou um novo conceito de família, baseada na afetividade e compreensão dos seus membros (MARTINS, 2004, 68). Uma nova realidade social e as alterações que trouxe à própria família, e à conceção das responsabilidades parentais, conduzem necessariamente a uma modificação da ordenação familiar.
A par da imagem da criança como incapaz ou vítima, começa a surgir a da criança autónoma e responsável, sendo necessário proteger os seus interesses em conformidade. Paralelamente à ideia de vulnerabilidade da criança, surge a da sua autonomia como ator social. Daí que a família, e os adultos, tenham um relevo especial no desenvolvimento da criança, mas não esqueçamos a própria criança na sua progressiva autonomia. A criança deixou de ser objeto de direitos para passar a ser sujeito de direitos, que, atendendo à sua vulnerabilidade inerente e necessidades especiais, carece de cuidados próprios. Contudo, a criança vai-se desenvolvendo e tornando autónoma, embora mantenha a incapacidade de exercício de direitos.
Os direitos de participação da criança foram sendo consagrados no Direito Internacional e na legislação interna de vários Estados, como na legislação portuguesa. Entre nós, para além da disposição de carácter geral que decorre do art. 1878.º, n.º 2, do Código Civil, várias normas específicas – daquele mesmo diploma – preveem o direito de a criança decidir ou influenciar em assuntos relevantes da sua vida: o art. 127.º (jovem com mais de 16 anos pode administrar e dispor dos bens que tenha adquirido com o seu trabalho; qualquer que seja a sua idade, o menor pode realizar os negócios jurídicos próprios da sua vida corrente, desde que estejam ao alcance da sua capacidade natural e só impliquem despesas ou disposições de bens de pequena importância; qualquer que seja a sua idade, pode o menor realizar negócios jurídicos relativos à profissão, arte ou ofício que tenha sido autorizado a exercer), o art. 1850.º (menor com mais de 16 anos pode perfilhar), o art. 1886.º (jovens de 16 anos podem decidir sobre a educação religiosa), o art. 1901.º, n.º 2 (filhos são ouvidos sobre o desacordo dos pais num assunto de particular importância em que o tribunal seja chamado a decidir), o art. 1981.º, n.º 1, al. c), (adotandos maiores de 12 anos têm de concordar com a sua própria adoção). Também noutros diplomas: o art. 4.º, al. c), do Regime Geral do Processo Tutelar Cível (estabelece o princípio da audição e participação da criança, devendo a mesma ser sempre ouvida sobre as decisões que lhe digam respeito desde que tenha capacidade de compreensão dos assuntos em discussão e atendendo à sua idade e maturidade), o art. 5.º do mesmo Regime (que materializa o direito da criança a ser ouvida, estabelecendo regras para o efeito), o art. 3.º, als. c) e d), do Regime Jurídico de Adoção (a criança deve ser ouvida e participar no seu projeto adotivo), os arts 4.º, al. j), e 84.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (audição e participação da criança na definição da medida de promoção dos seus direitos e proteção e nas questões que originaram a intervenção relativamente à aplicação, revisão ou cessação da medida), os arts. 45.º e 77.º da Lei Tutelar Educativa (a criança deve ser ouvida na aplicação de medida tutelar educativa), etc. Todos estes normativos são reminiscências do previsto, desde logo, no art. 12.º da Convenção sobre os Direitos da Criança, que estabelece que os Estados “garantem à criança com capacidade de discernimento o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em consideração as opiniões da criança, de acordo com a sua idade e maturidade” (n.º 1). Aliás, no mesmo sentido, a Convenção Europeia sobre o Exercício dos Direitos das Crianças (art. 3.º), a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (art. 24.º), etc.
É na senda da busca da aferição do superior interesse da criança e no respeito pela pessoa em formação que esta é que encontramos todas estas disposições legais. Permitir a voz da criança nas questões que lhe dizem respeito será demonstrativo do protagonismo que lhe devemos propiciar. A audição torna-se um vetor essencial de compreensão do âmago do pensamento e circunstâncias da criança, permitindo assegurar e defender os seus direitos. Dar-lhe a oportunidade de se expressar e manifestar a sua perceção denota um respeito pela sua autonomia enquanto um verdadeiro sujeito de direitos. “[A] defesa real da criança pressupõe ação que genuinamente contemple a sua autonomia enquanto pessoa” (PINHEIRO, 2020, 113).
Bibliografia
Impressa
ALMEIDA, J. C. M. (1968). “O poder paternal no Direito moderno”. Scientia Iuridica, 89, 34-46.
ANDRADE, A. S. & SANTOS, M. (2015). “A Lei n.º 4/2015, de 15 de janeiro, e as alterações introduzidas na Lei Tutelar Educativa – Uma primeira leitura”. Scientia Iuridica, XLIV (339), 329-348.
GONÇALVES, C. (1930). Tratado de Direito Civil em Comentário ao Código Civil Português (vol. II). Coimbra: Coimbra Editora.
LEANDRO, A. (1986). “Poder paternal: Natureza, conteúdo, exercício e limitações. Algumas reflexões de prática judiciária”. In Temas de Direito da Família (111-164). Coimbra: Almedina.
MARTINS, R. (2004). “Poder paternal vs autonomia da criança e do adolescente?”. Lex Familiae – Revista Portuguesa de Direito da Família, 1 (1), 65-74.
MENDES, C. (1990-1991). Direito da Família. Lisboa: AAFDL.
MOREIRA, S. (2001). “A autonomia do menor no exercício dos seus direitos”. Scientia Iuridica, 291, 159-194.
OLIVEIRA, G. (2001). “A criança maltratada”. In Temas de Direito da Família (215-221). (2.ª ed.). Coimbra: Coimbra Editora.
PINHEIRO, J. D. (2020). Limites ao Exercício das Responsabilidades Parentais em Matéria de Saúde da Criança. Coimbra: Gestlegal.
SANTOS, E. (1999). Direito da Família. Coimbra: Almedina.
Digital
“Os direitos das crianças”, http://observatoriodosdireitosdacrianca.com/observatorio/sobre/os-direitos-das-criancas (acedido a 04.08.2022).
Autoras: Cristina Dias
Rossana Martingo Cruz