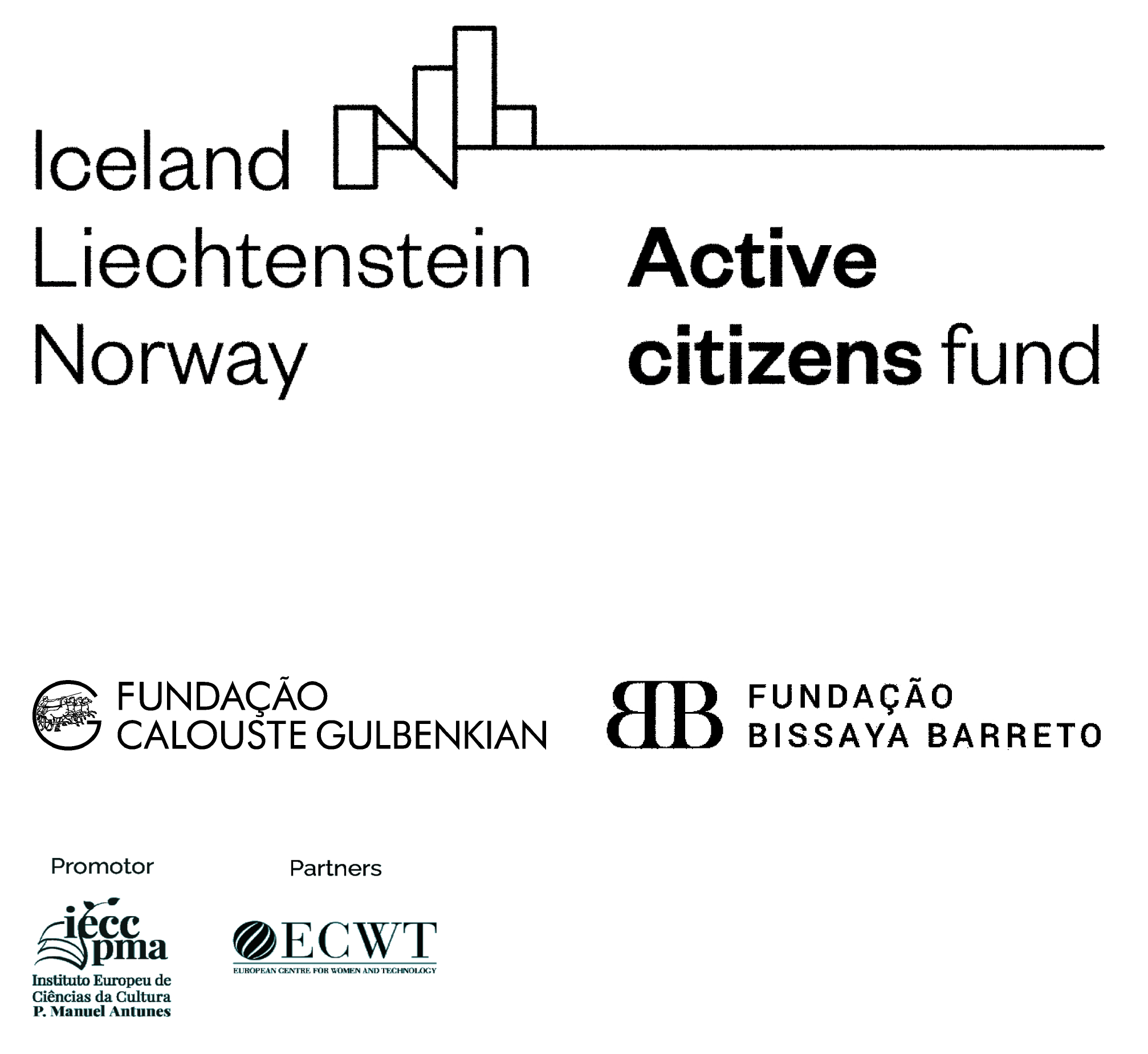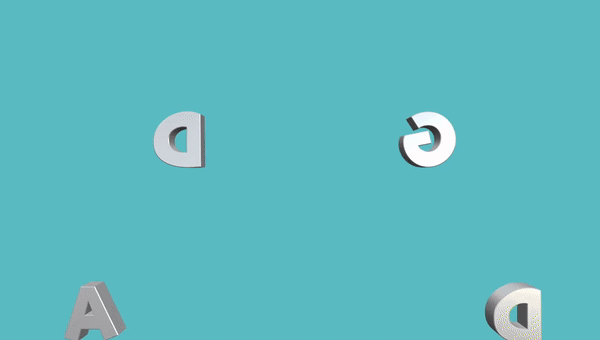Direitos Económicos, Sociais e Culturais [Dicionário Global]
Direitos Económicos, Sociais e Culturais [Dicionário Global]
Noção geral
Os direitos económicos, sociais e culturais (também denominados “direitos sociais”) correspondem a direitos a prestações (e.g., direitos à habitaçãoä, saúdeä, segurança social, educaçãoä, culturaä, trabalhoä, entre outros), que são assegurados pelo Estado, em geral, “sob reserva do possível”, ou seja, encontram-se dependentes, na sua exata concretização, dos recursos que o Estado tenha à sua disposição e que, em cada momento, decida alocar à sua satisfação. São, assim, direitos fundamentais, que merecem proteção internacional e consagração constitucional, carecendo, porém, de ser concretizados pelo legislador ordinário, em face das opções de política social e económica. Estas opções devem ser efetuadas pelo poder constituído, não podendo ser definidas, nomeadamente, pelos tribunais na interpretação que é feita das normas constitucionais.
Os direitos, liberdades e garantias são “direitos de todos […] e a todos garantidos, em todos os momentos, da mesma maneira, com igual intensidade […]”, sendo os direitos económicos, sociais e culturais “direitos de carência: de todos os que precisam, quando precisam e na medida em que precisam” (ANDRADE, 2019, 180). Surgem, tradicionalmente, definidos como direitos de segunda geração, complementando os direitos civis e políticos.
Um périplo pela História: o Estado social e a progressiva constitucionalização dos direitos sociais
Entre o final do século XIX e o início do século XX, fatores de ordem política, social, económica e ideológica, nomeadamente, o processo de industrialização que levou à emergência de movimentos para a defesa de interesses salariais, com a criação de sindicatos e, também, de partidos, impulsionaram a transição do modelo de Estado liberal para o Estado social na Europa. Assiste-se, assim, à mudança da lógica não intervencionista para um modelo de intervencionismo estatal.
Numa fase inicial, os direitos sociais foram positivados na lei ordinária, recaindo sobre o Estado a realização das correspondentes prestações. Na Alemanha, o processo de industrialização levou o Chanceler Bismark a aprovar, a partir de 1883, um conjunto de leis que versava sobre medidas sociais em favor de assalariados e desafortunados. O Reino Unido viria, igualmente, a aprovar medidas de proteção laboral e social, como o Old Age Pension Act (1908) e o National Insurance Act (1911).
Para além da Constituição mexicana de 1917, que consagrou três artigos aos direitos dos trabalhadores, na Europa, os direitos sociais viriam a ser constitucionalizados, desde logo, na Lei Fundamental de Weimar de 1918 e, ainda, nos regimes totalitários marxistas ou de inspiração fascista, como, por exemplo, na Constituição russa de 1918, que dedica a primeira parte à “Declaração dos direitos do povo trabalhador e explorado”, ou a Carta del Lavoro italiana de 1927. Em particular, a Constituição alemã de Weimar foi a primeira constituição de um Estado de direito democrático a prever um catálogo de direitos sociais, nomeadamente sobre direitos comunitários sociais e políticos (capítulo II), educação (capítulo IV) e economia e direitos laborais (capítulo V). Também a Constituição da Segunda República Espanhola de 1931, de influência socialista e comunista, consagrou o seu capítulo II do título III a um catálogo de direitos sociais.
Foi, porém, após a Segunda Guerra Mundial que surgiu um verdadeiro movimento de constitucionalização dos direitos sociais, os quais mereceram, também, reconhecimento a nível internacional, mormente nas sucessivas convenções aprovadas pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e que, como tal, merecem, igualmente, referência.
Em 1948, foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanosä, que, no que respeita aos direitos sociais, previu, no respetivo art. 22.º, “Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de harmonia com a organização e os recursos de cada país”.
A nível europeu, a Convenção Europeia dos Direitos Humanosä foi assinada em Roma pelos membros do Conselho da Europa a 4 de novembro de 1950. Contudo, esta Convenção e os respetivos protocolos adicionais focaram-se, primordialmente, nos direitos civis e políticos, pouco adiantando quanto aos direitos sociais. Na verdade, tal apenas viria a suceder, mais tarde, com a Carta Social Europeiaä, aprovada pelo Conselho da Europa, em Turim, a 18 de outubro de 1961, que veio expressamente garantir o gozo de direitos sociais fundamentais.
Na sequência da Convenção Relativa à Discriminação em Matéria de Emprego e de Profissão, adotada pela Organização Internacional do Trabalho em 1958, e da Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no Domínio do Ensino, adotada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em 1960, a Assembleia Geral da ONU aprovou, em 1965, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, que, no respetivo art. 5.º, alínea e), prevê que “os Estados Partes obrigam-se a proibir e a eliminar a discriminação racial, sob todas as suas formas, e a garantir o direito de cada um à igualdade perante a lei sem distinção de raça, de cor ou de origem nacional ou étnica, nomeadamente no gozo dos seguintes direitos: […] Direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente: i) Direitos ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho, à proteção contra o desemprego, a salário igual para trabalho igual e a uma remuneração equitativa e satisfatória; ii) Direito de fundar sindicatos e de se filiar em sindicatos; iii) Direito ao alojamento; iv) Direito à saúde, aos cuidados médicos, à segurança social e aos serviços sociais; v) Direito à educação e à formação profissional; vi) Direito de tomar parte, em condições de igualdade, nas atividades culturais”.
Posteriormente, a 16 de dezembro de 1966, aprovou, a par do Pacto Internacional de Direitos Civil e Políticosä, o Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturaisä, que entraria em vigor a 3 de janeiro de 1976, onde expressamente se enuncia que “de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, não é possível realizar-se o ideal do ser humano livre, liberto do medo e da miséria, a menos que se criem condições que permitam a cada pessoa gozar os seus direitos económicos, sociais e culturais, bem como os seus direitos civis e políticos”. Não se pode deixar de sublinhar o relevo que assume a opção de separar o regime relativo aos direitos civis e políticos do regime referente aos direitos sociais, sendo que, quanto a estes últimos, se prevê que “Cada um dos Estados Partes no presente Pacto compromete-se a agir, quer com o seu próprio esforço, quer com a assistência e cooperação internacionais, especialmente nos planos económico e técnico, no máximo dos seus recursos disponíveis, de modo a assegurar progressivamente o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto por todos os meios apropriados” (art. 2.º), ou seja, admite-se que a efetivação destes direitos se encontra condicionada à reserva do possível quanto aos recursos disponíveis por cada Estado-Membro. Diferentemente, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos assume como obrigação dos Estados signatários “garantir a homens e mulheres a igualdade no gozo de todos os direitos civis e políticos enunciados no presente Pacto”, que não se encontram, por regra, sujeitos à referida “reserva do possível”, o que se compreende por se tratarem, no geral, de direitos com uma dimensão negativa.
Nos anos 70, a Constituição grega de 1975, a Constituição da República Portuguesa de 1976 e Constituição espanhola de 1978 incorporaram expressamente um catálogo alargado de direitos sociais.
Em dezembro de 1979, foi adotada pela Assembleia Geral da ONU a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheresä, que, no respetivo preâmbulo, enuncia que “os Estados Partes nos pactos internacionais sobre direitos do homem têm a obrigação de assegurar a igualdade de direitos dos homens e das mulheres no exercício de todos os direitos económicos, sociais, culturais, civis e políticos”. Surge, então, esta Convenção perante a consciencialização de que “a discriminação contra as mulheres viola os princípios da igualdade de direitos e do respeito da dignidade humana, que dificulta a participação das mulheres, nas mesmas condições que os homens, na vida política, social, económica e cultural do seu país, que cria obstáculos ao crescimento do bem-estar da sociedade e da família e que impede as mulheres de servirem o seu país e a Humanidade em toda a medida das suas possibilidades» e tendo presente que “em situações de pobreza as mulheres têm um acesso mínimo à alimentação, aos serviços médicos, à educação, à formação e às possibilidades de emprego e à satisfação de outras necessidades”. Destarte, é aqui reconhecido que a concretização do princípio da igualdade e o respeito pela dignidade humana não se restringem à garantia dos direitos civis e políticos, mas também dos direitos sociais. E, porque assim é, o art. 1.º enuncia, de modo claro, que “a expressão ‘discriminação contra as mulheres’ significa qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo que tenha como efeito ou como objetivo comprometer ou destruir o reconhecimento, o gozo ou o exercício pelas mulheres, seja qual for o seu estado civil, com base na igualdade dos homens e das mulheres, dos direitos do homem e das liberdades fundamentais nos domínios político, económico, social, cultural e civil ou em qualquer outro domínio”. Pese embora a menção a “liberdades fundamentais” pareça apontar, apenas, para os direitos civis e políticos, não há dúvidas de que esta Convenção visa a salvaguarda dos direitos sociais, até porque se estabelece a necessidade de adoção pelos Estados-Membros de medidas que assegurem a igualdade de direitos, nomeadamente no domínio da educação, emprego, saúde, entre outros.
A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povosä, aprovada pela Conferência Ministerial da Organização da Unidade Africana (OUA) em Banjul, Gâmbia, em janeiro de 1981, e adotada pela XVIII Assembleia dos Chefes de Estado e Governo da Organização da Unidade Africana (OUA) em Nairobi, Quénia, a 27 de julho de 1981 (Carta Banjul), veio consagrar os direitos humanos e dos povos, vinculando os respetivos Estados-Membros da Organização da Unidade Africana a reconhecer esses direitos e a adotar medidas legislativas ou outras para os aplicar. Com interesse, no respetivo preâmbulo prevê esta Carta que “os direitos civis e políticos são indissociáveis dos direitos económicos, sociais e culturais, tanto na sua conceção como na sua universalidade, e que a satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais garante o gozo dos direitos civis e políticos”, prevendo expressamente uma unidade e interdependência dos diretos civis e políticos com os direitos sociais.
A partir dos anos 80 do século XX, na transição de regimes autoritários para a democracia, assistiu-se à constitucionalização dos direitos sociais em países como a Ucrânia, República Checa, Croácia, Sérvia, entre outros, e, no continente africano, destacam-se as Constituições da África do Sul, de 1996, e de Cabo Verde, de 1992.
Em 1996, o Conselho da Europa viria a aprovar a Carta Social Europeia Revista, não só para atualizar o conteúdo da Carta Social Europeia de 1961, mas ainda porque “a Conferência Ministerial sobre os Direitos do Homem, realizada em Roma em 5 de novembro de 1990, sublinhou a necessidade, por um lado, de preservar o carácter indivisível de todos os direitos do homem, quer sejam civis, políticos, económicos, sociais ou culturais e, por outro, de dar um novo impulso à Carta Social Europeia”.
O Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão Europeia, a 7 de dezembro de 2000, proclamaram a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeiaä, com o objetivo expresso de reafirmar, no quadro da União Europeia, os direitos que decorrem nomeadamente das tradições constitucionais e das obrigações internacionais comuns aos Estados-Membros, da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, das Cartas Sociais aprovadas pela União e pelo Conselho da Europa, bem como da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Do catálogo dos direitos e liberdades enunciados nesta Carta constam, também, os direitos sociais, como, por exemplo, o direito à educação, o direito à segurança social e à proteção da saúde, remetendo embora a sua concretização para as legislações nacionais. Com efeito, “a dimensão social do ser humano não podia […] ser esquecida no âmbito de uma estratégia europeia de garantia dos direitos fundamentais. O reconhecimento de direitos sociais e económicos resulta da visão do Homem como ser completo, logo pluridimensional: cidadão, trabalhador e o direito à instrução. Os artigos 1º e 2º do Protocolo n.º 1 refletem, em parte, esta perspetiva ao preverem o direito de propriedade e o direito à instrução. Também o artigo 4.º da CEDH que proíbe o trabalho forçado e o artigo 11.º sobre o princípio da liberdade sindical individual podem ser interpretados como integrantes de um estatuto do trabalhador” (DUARTE, 2006, 104). Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 2009, os direitos, as liberdades e os princípios referidos na Carta tornaram-se juridicamente vinculativos para a União Europeia e para os Estados-Membros quando aplicam o direito da União.
O repensar do modelo económico e as crises económico-financeiras que afetaram a primeira década do século XXI têm suscitado questões sobre a extensão e garantia dos direitos sociais, bem como uma discussão sobre a sua natureza, havendo quem procure equipará-los aos direitos civis e políticos, numa lógica de unidade dos direitos fundamentais, e quem, pelo contrário, propugne uma retração do modelo assistencialista.
Em particular, o caso português
A constitucionalização dos direitos sociais
Em Portugal, também se fizeram sentir as necessidades de promoção do bem-estar social (VIDEIRA, 2016), que se manifestariam em diversos escritos do século XIX constantes da imprensa panfletária, literatura social e política e imprensa periódica nacionais. A revolução industrial e a exploração da classe operária trouxeram para a linha da frente os direitos sociais e a necessidade de os assegurar (ALVES-JESUS, 2021, 700). Não obstante, as constituições liberais do século XIX e, bem assim, a Constituição de 1911 limitavam-se a enunciar, para além do direito de propriedade, as tradicionais liberdades cívicas e garantias em matéria criminal, pouco ou nada referindo a propósito de direitos de participação política ou relativamente aos direitos sociais.
Os direitos sociais apenas passariam a constar do catálogo de direitos fundamentais, de modo claro, com a Constituição de 1933, embora esta, fruto do contexto político em que foi aprovada, se assuma como uma constituição programática, prevendo um conjunto de direitos sociais, económicos e culturais em normas não exequíveis por si próprias. Ainda assim, a partir de 1969, o Governo de Marcello Caetano viria a adotar algumas medidas que se podem assumir como uma incipiente tentativa de implementação do Estado social (MORAIS, 2018, 157).
A Constituição da República Portuguesa de 1976, principiando pela enunciação dos princípios fundamentais e dos direitos, liberdades e garantias, dedicou o título III da parte I aos direitos sociais em normas de cariz predominantemente programático, ou seja, normas que “carecem em absoluto de legislação ordinária que defina juridicamente o seu conteúdo positivo, em regra estribado em princípios, diretrizes gerais e fórmulas indeterminadas, que consentem uma pluralidade de opções concretizadoras. Isto porque normas programáticas apontam para objetivos a atingir, mas não determinam vias ou meios para o seu preenchimento ou graus de satisfação na sua concretização” (MORAIS, 2018, 545).
O regime da Constituição da República Portuguesa de 1976
O Estado social e a sistemática da Constituição
No art. 2.º da Constituição da República Portuguesa prevê-se, nomeadamente, que “[a] República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa”. O conceito de “democracia económica, social e cultural” corresponde à noção de “Estado Socialä”, que “se traduz essencialmente na responsabilidade pública pela promoção do desenvolvimento económico, social e cultural na proteção dos direitos dos trabalhadores, na satisfação de níveis básicos de prestações sociais para todos, e na correção das desigualdades sociais” (Canotilho & Moreira, 2007, 210). Os direitos económicos, sociais e culturais assumem, assim, relevo e afirmam-se como concretização do Estado social.
Para alcançar o Estado social, o art. 9.º da Constituição da República, elenca, entre o mais, como tarefas fundamentais do Estado “a) garantir a independência nacional e criar as condições políticas, económicas, sociais e culturais que a promovam” e “d) promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação de direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais”. É, pois, com este desígnio em mente que os arts. 80.º e 81.º, já na parte relativa à organização económica, consagram o princípio da subordinação do poder económico ao poder democrático e, ainda, incumbem ao Estado no âmbito económico e social “a) promover o aumento do bem-estar social e da qualidade de vida das pessoas, em especial das mais desfavorecidas, no quadro de uma estratégia de desenvolvimento sustentável”, “b) promover a justiça social, assegurar a igualdade de oportunidades e operar as necessárias correções das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento, nomeadamente através da política fiscal”.
Os direitos e deveres económicos, sociais e culturais constam no título III da Constituição, dividindo-se, então, no capítulo I – “Direitos e deveres económicos” (art. 58.º a 62.º), capítulo II – “Direitos e deveres sociais” (art. 63.º a 72.º) e capítulo III – “Direitos e deveres culturais (art. 73.º a 79.º).
Regime dos direitos económicos sociais e culturais
A Constituição da República Portuguesa de 1976 materializou uma visão dicotómica dos direitos fundamentais, distinguindo direitos, liberdades e garantiasä e direitos económicos sociais e culturais, tal como sucedeu com a maioria das constituições posteriores à Primeira Guerra Mundial e, como sobredito, com os Pactos de 1966. Esta dicotomia reflete-se não apenas na sua inserção sistemática na Constituição da República Portuguesa, mas também no regime aplicável.
O art. 18.º da Lei Fundamental estabelece o regime geral dos direitos, liberdades e garantias, aí se prevendo a sua vinculação e aplicação direta a entidades públicas e privadas. A contrario, os direitos económicos, sociais e culturais não serão diretamente aplicáveis, nem vinculam entidades públicas e privadas na sua aplicação direta. Dito de outro modo, os direitos, liberdades e garantias beneficiam de um regime de proteção reforçado, porque diretamente inerentes ao princípio da dignidade humana individual, ao passo que os direitos económicos, sociais e culturais teriam um regime de proteção menor, não lhes sendo, nomeadamente, aplicável o disposto no art. 18.º da Constituição da República Portuguesa. Contudo, existem, ainda, aqueles direitos que, não se incluindo no catálogo dos “direitos, liberdades e garantias”, merecem igual tratamento por se tratarem de “direitos fundamentais de natureza análoga”, por força do disposto no art. 17.º da Constituição da República Portuguesa (CUNHA, 2014, 166 e 167). O conceito de “direitos análogos” permite “proporcionar, face às circunstâncias concretas do ‘caso’, uma maior flexibilidade no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos direitos, em termos breves, uma maior efetividade (ou uma ‘efetividade ótima’) na respetiva aplicação e realização” (queiroz, 2020, 14).
As normas que consagram direitos sociais são, comumente, definidas como normas programáticas, ou seja, são normas que enunciam princípios, diretrizes ou fórmulas indeterminadas, que podem ser concretizadas de modo diverso consoante as opções que cada governo em concreto possa vir a adotar. Trata-se de normas constitucionais que fixam objetivos a alcançar, sem, contudo, vincular quanto ao modo ou efetiva concretização. A título de exemplo, pode-se referir o direito à segurança social (art. 63.º), o direito à saúde (art. 64.º) e o direito ao ensino (art. 74.º e seguintes). A concretização fica, como supra referido, dependente de cada governo e das respetivas opções políticas e económicas, sujeitando-se à reserva do possível. E isto porque os direitos sociais correspondem, por regra, a prestações positivas que têm um custo social, seja em face à escassez de recursos económicos, seja pelos limites do poder estadual nas sociedades democráticas. Sublinha-se, porém, que, sendo embora normas programáticas, a Constituição portuguesa contém normas impositivas de legislação. Não ditando como tais direitos devem ser concretizados, exige, porém, que sejam tomadas medidas para a sua satisfação.
De acordo com o regime plasmado na Constituição da República Portuguesa, enquanto os direitos, liberdades e garantias se encontram inscritos na reserva relativa de competência da Assembleia da República, ou seja, qualquer intervenção legislativa quanto a estes direitos fundamentais deverá ser levada a cabo por meio de lei parlamentar ou decreto-lei emitido sob autorização parlamentar, os direitos sociais não beneficiam deste regime unívoco, podendo ser regulados por lei, decreto-lei do Governo, decretos legislativos regionais ou mesmo regulamentos (cf. arts. 164.º e 165.º da Constituição). Encontram-se, porém, sujeitos à reserva relativa de competência legislativa as bases do sistema de segurança social e do serviço nacional de saúde e, ainda, as bases do sistema de proteção da natureza, do equilíbrio ecológico e do património cultural (alíneas f) e g) do n.º 1 do art. 165.º da Constituição da República Portuguesa).
A jurisprudência do Tribunal Constitucional assume particular relevo no que concerne ao regime destes direitos, posto que se pronuncia sobre a interpretação e aplicação das diretrizes constitucionais relativas aos direitos sociais e sobre os diplomas legais que vão sendo aprovados por cada governo para concretizar e regular os mesmos. Com efeito, pese embora gozem de uma proteção constitucional menos intensa, encontra-se a sua satisfação sujeita ao crivo daquele Tribunal.
Recentemente, destaca-se a “jurisprudência da crise”, ou seja, os acórdãos que o Tribunal Constitucional veio a proferir no contexto das reformas do governo que visaram o corte na despesa do Estado. Apesar de proliferarem os defensores da equiparação entre direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais, tal tese não vingou na jurisprudência do Tribunal Constitucional e não é, também, adotada pela maioria da doutrina nacional. Na verdade, os acórdãos que declararam a inconstitucionalidade de algumas das normas aprovadas pelo governo, fizeram-no não porque foram violados direitos sociais, mormente o direito à segurança social (no caso dos cortes das pensões), mas antes pela violação de princípios fundamentais, como o princípio da proporcionalidade e proteção da confiança legítima. Recusou, pois, este Tribunal estender o regime dos direitos, liberdades e garantias aos direitos sociais afetados pelas reformas governamentais (ver, e.g., os acórdãos n.ºs 396/2011, 413/2014 e 574/2014).
Este Tribunal assume, também, um papel relevante na definição dos direitos de natureza análoga a direitos, liberdades e garantias. A título de exemplo, os acórdãos n.os 373/91, 231/2000, 563/2003 e 258/2006, bem como o acórdão 793/2013, pronunciaram-se no sentido de o direito à jornada máxima de trabalho e ao direito ao descansoä semanal se assumirem como direitos fundamentais de natureza análoga e como qual beneficiando do regime dos direitos, liberdades e garantias.
A tutela dos direitos sociais
A proteção dos direitos sociais pode ser efetuada, desde logo, pelo mecanismo da fiscalização abstrata da inconstitucionalidade por omissão, a requerimento do presidente da República, do provedor de Justiça ou, com fundamento em violação de direitos das regiões autónomas, dos presidentes das assembleias legislativas das regiões autónomas (art. 283.º da Constituição da República Portuguesa). Nestes casos, porém, o Tribunal Constitucional apenas poderá verificar a existência de inconstitucionalidade por omissão, dando disso conhecimento ao órgão legislativo competente. Os cidadãos podem, ainda, defender os seus direitos sociais nos tribunais ordinários, invocando a inconstitucionalidade de normas relativas a prestações estaduais, designadamente nos casos de discriminação, desigualdades ou ofensa ao conteúdo essencial desses direitos. Nessa sequência, poderá o Tribunal Constitucional ser chamado, verificados que se encontrem os respetivos pressupostos, a apreciar a interpretação daquela norma em sede de fiscalização concreta. Sempre será, por regra, pela impugnação judicial de atos, junto dos tribunais administrativos, que se logrará concretizar a defesa dos direitos sociais, como, por exemplo, quanto a prestações estaduais que sejam devidas, como pensões de sobrevivência, subsídios de desemprego, rendimento mínimo garantido, entre outros.
A defesa de infrações contra a saúde pública, os direitos dos consumidores, a qualidade de vida, a preservação e o património cultural podem, ainda, ser assegurados através do direito de ação popular (cf. art. 52.º da Constituição da República de Portugal e lei n.º 83/95, de 31 de agosto). Também o Ministério Público pode intervir na defesa dos direitos sociais, intentando as competentes ações nos tribunais, nos termos previstos nos arts. 9.º e 85.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos.
Os tribunais, em particular os tribunais administrativos, são amiúde chamados a decidir sobre a implementação dos direitos sociais, sem que tal intervenção judicial se possa entender como violadora do princípio da separação de poderes, posto que recairá, sempre, sobre os órgãos legislativos e políticos a conformação da concretização dos direitos sociais constitucionalmente previstos.
Em suma, ainda que não beneficiem da intensidade de proteção dos direitos, os direitos económicos, sociais e culturais também dispõem de garantias jurídicas e tutela judicial.
Bibliografia
ALVES-JESUS, S. M. (2021). Direitos Humanos em Portugal: Representações e Dissensões entre História e Utopia (1755-1867). Tese de Doutoramento. Universidade de Lisboa.
ANDRADE, J. C. V. de (2019). Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976 (6.ª ed.). Coimbra: Almedina.
CANOTILHO, J. J. G. & MOREIRA, V. (2007). Constituição da República Portuguesa Anotada (vol. I) (4.ª ed.). Coimbra: Coimbra Editora.
CUNHA, P. F. da (2014). Direitos Fundamentais – Fundamentos & Direitos Sociais. Lisboa: Quid Iuris.
DUARTE, M. L. (2006). União Europeia e Direitos Fundamentais – No Espaço da Internormatividade. Lisboa: AAFDL.
MIRANDA, J. (2018). Curso de Direito Constitucional (vol. 2). Lisboa: Universidade Católica Editora.
MIRANDA, J. (2022). A Constituição Portuguesa – Uma Introdução Geral. Coimbra: Almedina.
MORAIS, C. B. de (2018). Curso de Direito Constitucional – Teoria da Constituição (t. II). Coimbra: Almedina.
NOVAIS, J. R. (2017). Direitos Sociais (2.ª ed. revista). Lisboa: AAFDL.
NOVAIS, J. R. (2020). Uma Constituição, Dois Sistemas? Direitos de Liberdade e Direitos Sociais na Constituição Portuguesa. Coimbra: Almedina.
QUEIROZ, C. (2020). Direitos Fundamentais Sociais. Lisboa: Petrony Editora.
RIBEIRO, J. de S. (2021). Direitos Sociais e Vinculação do Legislador. Coimbra: Almedina.
VIDEIRA, S. A. (2016). Liberalismo e Questão Social em Portugal no Século XIX: Contributo para a História dos Direitos Sociais. Lisboa: AAFDL.
Autora: Ana Jorge Rodrigues