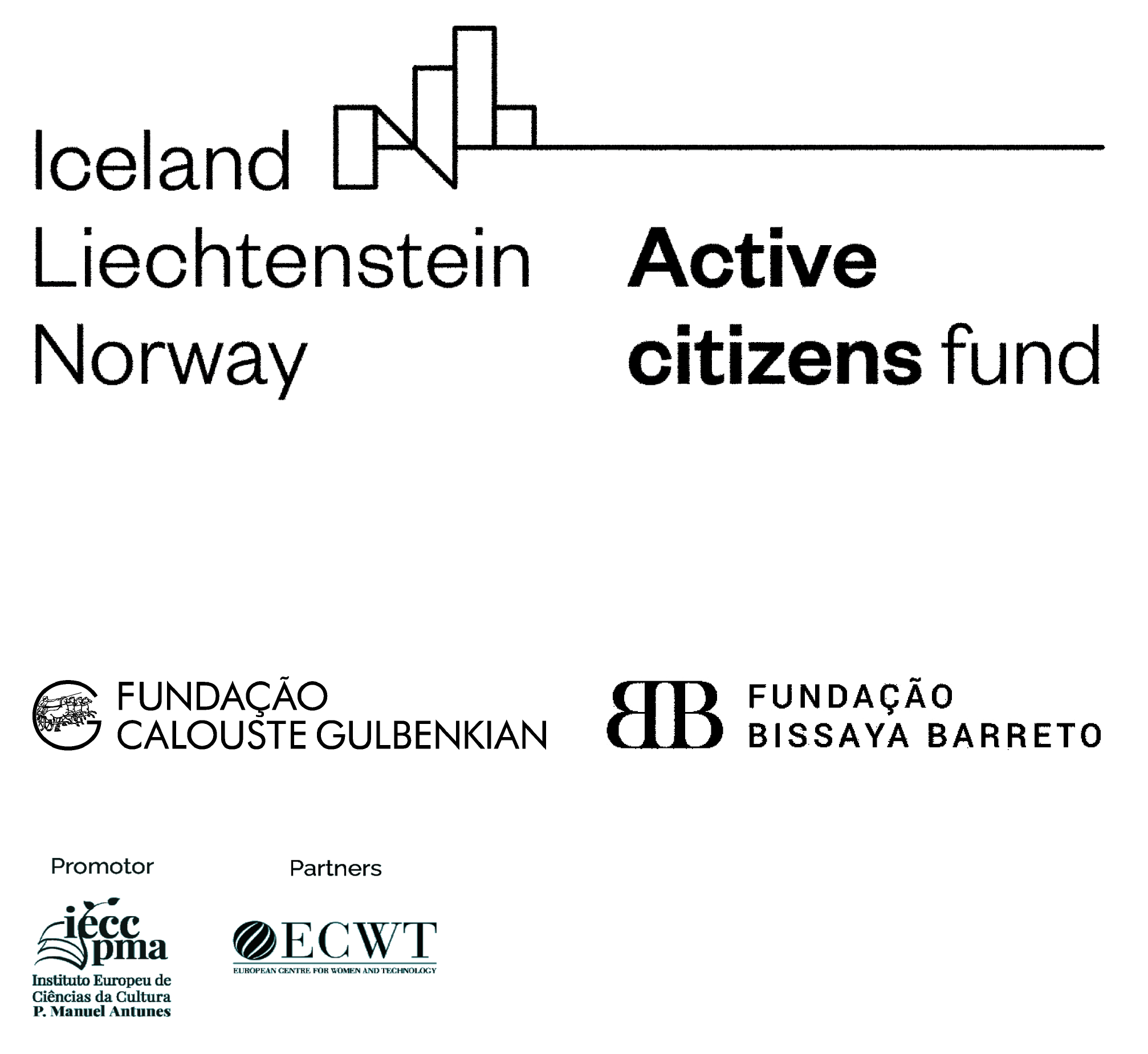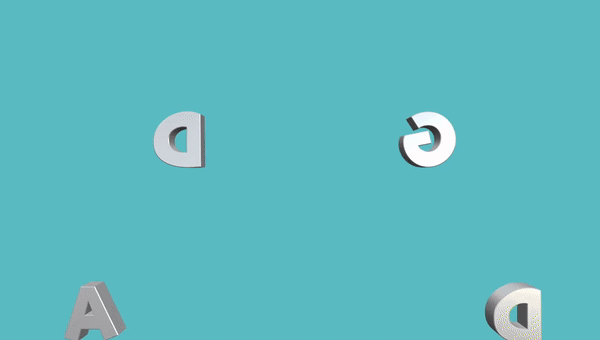Mandela, Nelson [Dicionário Global]
Mandela, Nelson [Dicionário Global]
Nelson Rolihlahla Mandela nasceu em Mvezo (África do Sul) a 18 de julho de 1918. Filho de Nkosi Mphakanyiswa Gadla Mandela († 1925) e de Nonqaphi Nosekeni († 1968), recebeu o nome Nelson no colégio que frequentou a partir dos 7 anos em Qunu. A sua longa vida de 95 anos atravessou várias etapas de transformação da África do Sul em termos políticos. Lutou contra o ìApartheid, imposto na África do Sul em 1948, tendo sido, por isso, condenado a prisão perpétua em 1964, no Julgamento de Rivonia (cumpriu pena até 11 de fevereiro de 1990). Em 1993, recebeu o Prémio Nobel da Paz. Presidiu o país entre 1994 e 1999. Faleceu em dezembro de 2013 e ficou para a História como um dos maiores defensores dos ìDireitos Humanos em todo o mundo.
Em 1918, o Império britânico dominava a África do Sul. Desde 1910, os Africanos estavam excluídos da cidadania sul-africana e do novo Estado que surgira da Guerra entre os ingleses e os Boers (camponeses de origem holandesa) de 1899-1902. Embora as chefias africanas não tenham sido extintas no novo modelo, deviam ser aprovadas pelo governo britânico, criando-se relações de cumplicidade que abriram caminho para que indivíduos pertencentes às elites nativas, sobretudo as que converteram ao Cristianismo, tivessem oportunidade de estudar nas escolas para africanos criadas pelos missionários. Este é o caso de Rolihlahla Mandela, filho do chefe de Mvezo, Nkosi Mandela (região de Trenskey), e pertencente à tribo Thembu. A conversão da mãe fez com que Mandela fosse enviado para um colégio local aos 7 anos para se formar como conselheiro dos governantes da sua tribo (Mandela, 1995). A sua professora, Mdingane, deu-lhe um nome, Nelson, seguindo um costume (de provável origem britânica) de dar um nome inglês aos alunos africanos. Seriam, para os ingleses, mais fáceis de pronunciar.
Com 9 anos, após a morte do pai, foi colocado sob a proteção do regente de Mqhekezweni, Jongintaba. Aos 16 anos, foi enviado para o internato de Clarkebury (instituição de ensino para africanos fundada em 1825), no distrito de Engcobo. Recebeu formação como futuro conselheiro de Sabata Dalindyebo (herdeiro de Jongintaba em Mqhekezweni). Em 1937, com 19 anos, ingressou em Healdown, uma escola onde havia estudantes de várias tribos sul-africanas. Passou, pouco tempo depois, para Fort Hare, um prestigiado centro universitário, onde viu despertar um espírito rebelde que o enfrentou ao sistema deste estabelecimento de ensino, mas também às próprias tradições africanas. Esta oposição motivou a fuga para Joanesburgo, onde acabou por trabalhar nas minas e, mais tarde, num gabinete de advogados. Estudou por correspondência na Universidade da África do Sul (UNISA) entre 1941 e 1943. Voltou a Fort Hare para concluir a graduação e, em 1943, entrou na Faculdade de Direito da Universidade de Witwatersrand (também conhecida como Witts), onde era o único estudante negro (Murray 2016).
O percurso educativo de Mandela é um exemplo do papel das escolas no ìColonialismo. As missões destinadas à transmissão do Cristianismo atraíram à África do Sul indivíduos de várias origens. Estes, por sua vez, foram responsáveis pela fundação de hospitais e escolas para os africanos. A diversidade de posturas destes missionários face às relações desiguais entre a minoria europeia e a maioria africana não permite afirmar que são grupos homogéneos de protagonistas e cúmplices de um ìColonialismo e Imperialismo que ganhou, sobretudo nas décadas anteriores, terreno através da instrução das elites locais (Lewis e Stein, 2003). Gradual e generalizadamente, a ideologia destes grupos acabou por seguir a ideologia dominante, marcada pela segregação (em que uma pessoa é tratada de maneira diferente segundo a cor da sua pele). Contudo, apesar de os diretores dos estabelecimentos de ensino serem de origem europeia, uma boa parte dos docentes com quem Mandela contactou eram africanos (destaca-se, por exemplo, Getrude Ntlabati, a primeira africana a licenciar-se em Fort Hare e professora nessa instituição), o que demonstra a participação destes professores na transmissão da ideologia dos Europeus (por exemplo, as ideias de que estes traziam a civilização e que eram superiores aos Africanos).
A autobiografia de Mandela (Mandela, 1995) permite identificar a influência que cada uma destas etapas teve na formação e consolidação do seu ìativismo. A sua fuga para Joanesburgo é, neste percurso, um ponto de viragem importante, uma vez que tomou contacto direto com a situação dos africanos num sistema que limitava o acesso a postos de trabalho, à terra e ao direito de voto. Nessa cidade, o trabalho num escritório de advogados foi decisivo para aprofundar os seus conhecimentos sobre as leis, assim como para a fundação de seu próprio escritório de advogados (Mandela & Tambo). Por outro lado, a vida urbana em lugares destinados, exclusivamente, a negros, bem como o crescente envolvimento com os círculos políticos sul-africanos, conduziram-no à integração na juventude do Congresso Nacional Africano (CNA). Em 1947, nesta instituição, foi eleito membro do Comité Executivo da região de Transvaal e, em 1950, tornou-se presidente da Liga Nacional da Juventude, reforçando assim o seu papel na resistência ao ìApartheid. Dois anos mais tarde, foi eleito presidente daquela região e dirigiu iniciativas, nomeadamente a chamada “Campanha do Desafio contra leis injustas” (Defiance Campaign against Unjust Laws) em 1952, organizada pelo CNA, comunistas e indianos contra várias leis promulgadas pelo Partido Nacional (partido que venceu as eleições gerais, onde só os brancos podiam votar, em 1948, e que criou uma série de leis segregacionistas; v. ìApartheid).
Esta situação esteve na origem da redação da Constituição para a Liberdade (Freedom Charter) em 1955, que refletia as ambições coletivas dos nativos sul-africanos para um país que pertencia a todos os seus habitantes sem qualquer exceção e livre de preconceitos raciais. Este documento foi confiscado numa ação policial destinada a desmantelar o chamado “Congresso do Povo” e considerado como prova de conspiração. O governo da minoria optou por relacionar as atividades do CNA com o Comunismo. Mandela, apesar de encontrar nesta ideologia alguns objetivos comuns e de ser leitor das obras de ìMarx, procurou distanciar-se dela num artigo publicado na revista Liberation (Mandela, 1956). Em 1956, foi preso por alta traição, juntamente com outros 155 militantes.
A criação de leis que limitavam cada vez mais a capacidade de manifestações de discordância por parte da população e de outros setores políticos (por exemplo, o Comunismo, que foi ilegalizado no Ato de Supressão do Comunismo em 1950, bem como as atividades do CNA) permitiu ao governo sul-africano enviar para a prisão vários ativistas. A luta dirigida por Mandela contra o racismo (e não contra os brancos) levou-o a empreender uma viagem clandestina por África em 1962 para mobilizar recursos para a luta armada, criar um exército e dar a conhecer o CNA e receber treino militar na Etiópia. Os Africanos não recebiam, da parte das instituições governamentais, esse treino, o que constituía, para os dirigentes do CNA, uma preocupação no caso de ser necessário um enfrentamento bélico, assim como um forte obstáculo à resistência pacífica que Mandela defendeu durante vários anos, inspirado por ìM. Gandhi (Cohen, 2009).
Ao seu regresso, foi capturado e julgado em Rivonia no processo conhecido como o Julgamento de Rivonia (Rivonia Trial). Nesse longo julgamento, foi advogado em defesa própria contra leis que ele considerava (nas suas palavras) imorais, injustas e intoleráveis. Era, segundo um discurso famoso que proferiu nessa ocasião, um negro num tribunal de brancos a lutar pelos ìDireitos Humanos e pela abolição das injustiças impostas pelo regime de ìApartheid. Foi condenado pelos seus pensamentos e não pelos seus atos. Serviu a maior parte da sua pena na prisão da ilha de Robben (18 em 27 anos), e aí procurou aprofundar os seus conhecimentos como estudante de Direito. Prenderam o Homem, mas não os seus ideais, e é por esse motivo que a prisão acabou por manter Mandela nos círculos políticos como símbolo de um projeto de futuro alternativo para a África do Sul, ao mesmo tempo que lhe permitiu continuar a organizar esse movimento e promover a instrução dos vários indivíduos que ali chegaram. A ilha de Robben dava a estes ativistas a oportunidade de se reunirem e de comunicarem entre si, transformando não só os indivíduos, mas também o próprio movimento (Bady, 2014). Em 1982, Mandela foi transferido para a prisão de Pollsmoor, onde esteve mais isolado.
A ideologia do ìApartheid, sobretudo a partir do Ato de Educação Bantu (Bantu Education Act) de 1953, foi transmitida nas escolas e os conteúdos educativos eram controlados pelo Estado. Este, entretanto, começou a proibir toda e qualquer manifestação de discordância. A marca que deixou no sistema educativo sul-africano foi profunda e, por isso, tornou-se uma prioridade na transição para a Democracia entre 1990 e 1994 e no único mandato de Mandela, entre 1994 e 1999. Aquele sistema estava orientado para reforçar e justificar os privilégios do “Branco” através da formação da população nativa e, como tal, o caminho para a eliminação dos preconceitos e das desigualdades deveria fazer-se também nas escolas. Para Mandela, o caminho devia ser a libertação dos oprimidos e dos opressores (ao invés de uma substituição de atores) e a universalização de documentos venerados pelas democracias (a ìMagna Carta, ìBill of Rights e ìPetition of Rights) aos africanos, a quem estes direitos foram negados ao longo dos séculos pelo ìColonialismo. As suas aspirações eram as de uma sociedade plural onde todos poderiam participar (Ndlovu-Gatsheni, 2014).
Após ter recebido o prémio Jawaharlal Nehru para o Entendimento Internacional em 1979, Mandela foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz em 1993, juntamente com o então presidente sul-africano, W. De Klerk, pelo papel que ambos tiveram na criação de uma nova era na África do Sul. Abria-se o caminho para as primeiras eleições onde votaram brancos e negros na escolha de um destino comum, em 1994. Apesar da desconfiança do eleitorado de origem europeia, que temia o fim dos seus privilégios e a continuidade de uma escalada de violência que se acentuou após o massacre de Soweto (1976), a vitória de Nelson Mandela trouxe um discurso apaziguador e promotor da igualdade que pôs fim a uma era de segregação. Este processo teve, igualmente, que ver com a pressão internacional, que se traduziu numa série de sanções ao regime de ìApartheid a partir de 1984, ano em que o sul-africano Desmond Tutu foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz. Paralelamente, organizaram-se por todo o mundo iniciativas destinadas à libertação de Mandela e dos restantes presos políticos.
O CNA foi, contudo, considerado por vários estados como uma organização terrorista, do mesmo modo que Nelson Mandela. Ambos só foram retirados da lista norte-americana em 2008. Contudo, desde o Julgamento de Rivonia, foram várias as iniciativas internacionais que recomendavam ou exigiam a libertação dos presos políticos (fig. 1). Foi, talvez, esta pressão que salvou Mandela da condenação à morte por enforcamento. Poucos anos antes, em 1959, Lionel Rogosin produziu Volta, África (Come back, Africa), um filme que retratava e denunciava as condições de vida dos negros sob o ìApartheid, no qual participou Miriam Makeba. Esta cantora, entre outros artistas, fez parte de iniciativas que denunciaram os abusos daquele regime, destacando-se o discurso que proferiu na ONU em 16 de junho de 1963, praticamente no início de um exílio que durou mais de duas décadas. Pode dizer-se que a música foi uma via de divulgação global contra o ìApartheid e a favor da libertação de Mandela. Ao álbum An evening with Belafonte/ Makeba (1965), com destaque para Beware, Verwoerd! (Ndodemnyama), juntaram-se outras peças musicais, entre elas Bring him back home (Hugh Masekela, 1987), que foi o hino da longa viagem de Mandela pelo mundo após a sua libertação, Jo’Anna give me hope (Eddie Grant, 1988), Mandela Day (Simple Minds, 1988). Realizaram-se festivais de música por ocasião do 60º e 70º aniversários de Mandela, em 1978 e 1988; a 16 de abril de 1990, poucos meses após a libertação, foi organizado um concerto em sua homenagem, ao qual pôde assistir.
A educação para (e não só sobre) os ìDireitos Humanos foi, durante o mandato de Mandela, um dos pilares da aplicação de uma perspetiva global a um contexto nacional após várias décadas de segregação que, inevitavelmente, criou profundas desigualdades no acesso aos recursos. Consequentemente, a falta de acesso universal à educação constitui (e ainda constitui) um obstáculo à implementação de uma das grandes linhas de ação na agenda do governo sul-africano após o fim do ìApartheid (Russell, Sirota e Ahmed, 2019). Por outro lado, em 1995 criou-se a Comissão Sul-africana para os Direitos Humanos (South African Human Rights Comission) no contexto de uma nova constituição.
O percurso e legado de Mandela constituem, portanto, exemplos de luta pela democratização da sociedade sul-africana e pela eliminação do racismo nas sociedades ao nível local e global. Como o próprio afirmou nas últimas linhas da sua autobiografia, “ser livre não é, simplesmente, desprender-se das correntes, senão viver de um modo que respeite e aumente a liberdade dos demais”. Na sua vida, conquistou para todos os sul-africanos o direito a não serem oprimidos e excluídos por não se encaixarem nos critérios raciais impostos por uma minoria dominante.
Bibliografia
“South African Human Rights Comission” https://www.sahrc.org.za (cons. 04/08/2022)
Bady, A., “Robben Island University”, Transition, 116, 2014, pp.106-119.
Cohen, W.I., “Nelson Mandela: Grace in Victory”, in W.I. Cohen, Profiles in Humanity: The battle for Peace, Freedom, Equality, and Human Rights. Lanham: Rowman & Littlefield, 2009. pp. 125-144.
Discurso de Mandela no Julgamento de Rivonia: https://www.un.org/en/events/mandeladay/court_statement_1964.shtml (cons. 04/08/2022)
Documento da campanha de libertação dos condenados do Julgamento de Rivonia
https://www.aamarchives.org/archive/history/1960s/pri01-declaration-calling-for-the-release-of-south-african-political-prisoners/viewdocument.html (cons. 04/08/2022)
Mandela, N., “In our lifetime”, Liberation, 19 (junho), 1956, pp. 4-8.
Mandela, N. Longo caminho para a liberdade: a autobiografia de Nelson Mandela. Porto: Campo de Letras, 1995.
Murray, B., “Nelson Mandela and Witts University”, The Journal of African History, 57 (2), 2016, pp. 271-292
Ndlovu-Gatsheni, S., “From a ‘terrorist’ to global icon: a critical decolonial ethical tribute to Nelson Rohilahla Mandela of South Africa, Third World Quaterly, 35(6), 2014, pp. 905-921.
Rogosin, L. (1959): Come Back, Africa https://www.youtube.com/watch?v=VDFznqweUTQ
Russell, S.G.; Sirota, S.L.; Ahmed, A.K., “Human Rights Education in South Africa: Ideological shifts and Curricular reforms”, Comparative Education Review 63 (1), 2019, pp. 1-27.
Autor: Pedro Albuquerque