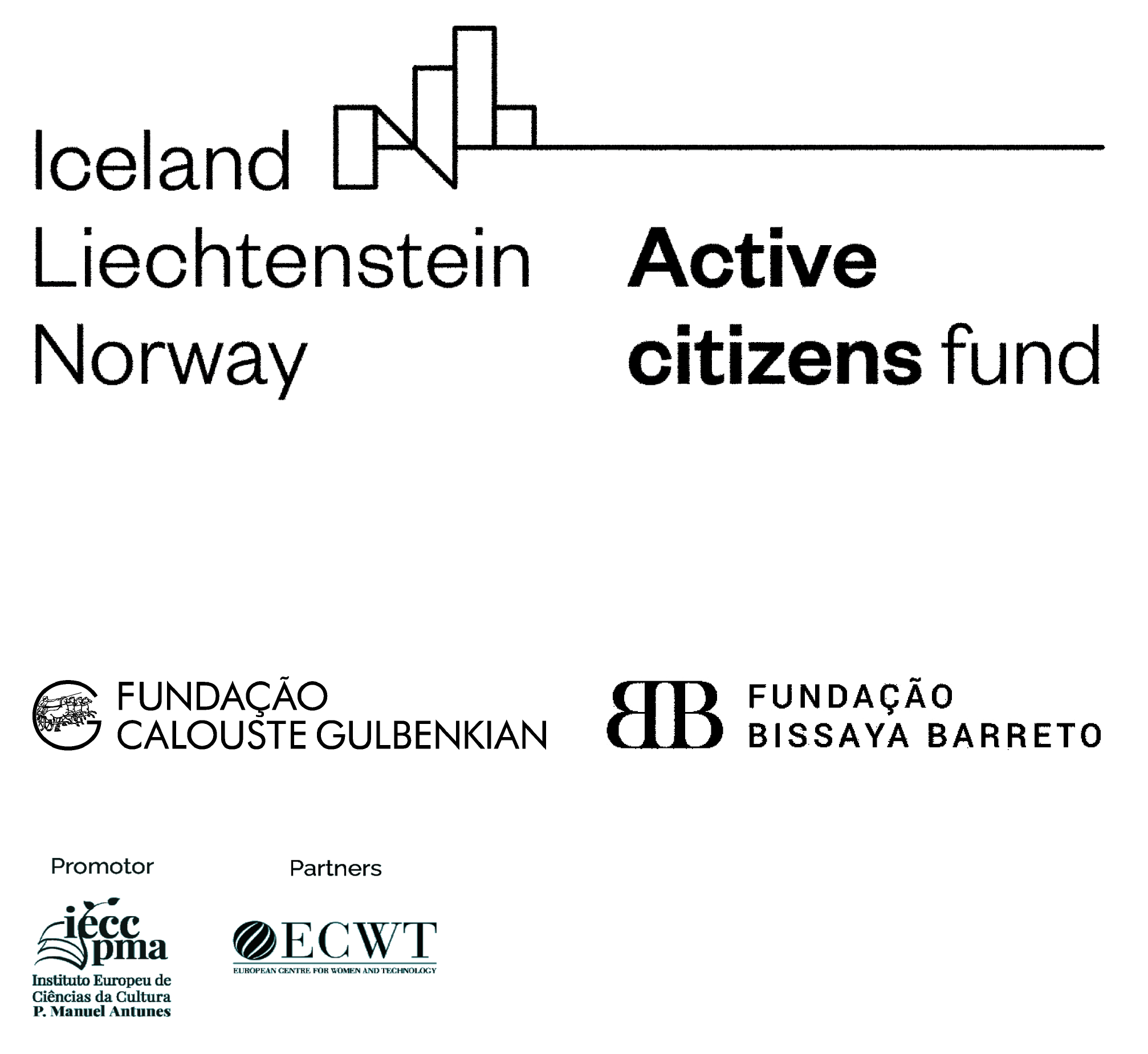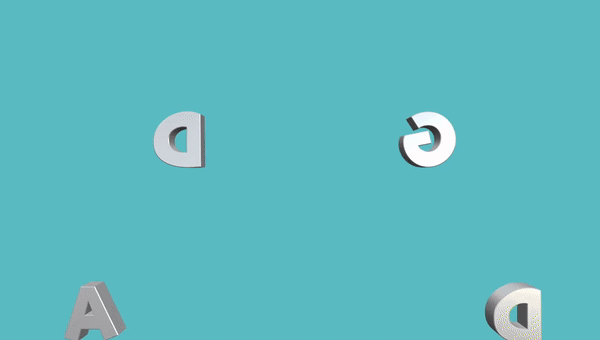Multiculturalismo [Dicionário Global]
Multiculturalismo [Dicionário Global]
O Multiculturalismo é um ideário político desenvolvido nos meios académicos norte-americanos a partir dos finais da década de 1960, tendo como expoentes máximos Charles Taylor, Will Kymlicka, Michael Walzer, Michael Sandel, Alasdair MacIntyre e Joseph Raz. Desdobrou-se rapidamente num grande número de versões alternativas, à medida dos interesses dos diferentes grupos tradicionalmente excluídos – povos indígenas, imigrantes, minorias étnico-raciais, mulheres, homossexuais, pessoas com deficiência –, mas na origem de todos os Multiculturalismos esteve a contestação do modelo liberal clássico de direitos humanos e liberdades fundamentais (com as suas pretendidas universalidade, igualdade e neutralidade) e a chamada de atenção para a importância de reconhecer e respeitar as múltiplas formas identitárias que coexistem nas sociedades democráticas contemporâneas, como meio de assegurar uma igualdade real e uma efetiva inclusão. Partindo da observação de que as pessoas são “seres portadores de cultura”, os multiculturalistas advogaram que é impossível dissociar a tutela da dignidade dos seres humanos do respeito pelos referentes culturais em que estes estribam a sua identidade. Para serem coerentes com o proclamado respeito pela dignidade da pessoa humana, os Estados teriam de abandonar a sua pretendida neutralidade – frequentemente hipócrita e sempre incompleta, já que as leis tendem a ser pensadas para o homem branco heterossexual e sem deficiência – e atribuir a devida relevância jurídico-política à(s) diferença(s). A igualdade formal de direitos e deveres não chega, porque tende a ignorar (e, com isso, a reproduzir ou até ampliar) as desigualdades de facto historicamente enraizadas que contribuem para a exclusão das pessoas diferentes da norma ditada pela cultura maioritária (em razão da origem étnico-racial, da língua, da deficiência, etc.). Para assegurar a igualdade material é necessário reconhecer as diferenças e respeitá-las, incluindo através da criação das condições necessárias para que todos possam realmente participar no espaço público e ter acesso aos bens comuns (ensino, saúde, trabalho, artes, desporto, etc.) sem prescindirem das suas singularidades e sem serem discriminados por causa dessas singularidades. As políticas de reconhecimento advogadas por Charles Taylor et al. permitiriam precisamente superar o estado de invisibilidade e de subalternização em que se encontra(va)m largos segmentos da sociedade, contribuindo para a inclusão – isto é, efetiva participação – dos membros dos grupos minoritários no seio da comunidade política.
Nas suas declinações iniciais, os reptos multiculturalistas tinham um pendor eminentemente comunitarista, refletido nas críticas ao individualismo liberal e na reivindicação de direitos coletivos para as minorias e povos indígenas. Segundo os comunitaristas, o tratamento dos indivíduos como abstrações anteriores ao (e independentes do) respetivo grupo de pertença desnaturava os seres humanos e contribuía para o seu desenraizamento e egoísmo, estando na origem da profunda crise vivida pelas sociedades ocidentais. Era, por isso, necessário recuperar os sentimentos comunitários, com os seus valores de coesão e solidariedade, e subordinar os interesses individuais ao interesse coletivo, pela imposição de deveres em lugar do reconhecimento de direitos individuais. Os direitos a reconhecer pelos Estados seriam direitos coletivos (participação política, autodeterminação, autogoverno, etc.) titulados pelos grupos enquanto tais e com prevalência sobre os interesses individuais dos membros do grupo em caso de conflito. Pensada sobretudo para a tutela dos direitos dos povos indígenas nos Estados Unidos da América e no Canadá, esta versão do Multiculturalismo acabou por perder terreno para versões liberais centradas na proteção das pessoas pertencentes a minorias através do reconhecimento de direitos individuais.
Na sua modalidade de Multiculturalismo Liberal, a reivindicação de políticas de reconhecimento e de “direitos de diferença” apresenta-se, não em rutura com o sistema de direitos herdado do Liberalismo, mas como um desenvolvimento deste, enquanto correlato do respeito pela autonomia individual e pelo princípio da igualdade. Segundo Will Kymlicka, o Multiculturalismo representa, na verdade, a terceira vaga da “revolução de direitos humanos” do pós-Segunda Guerra Mundial contra as velhas hierarquias raciais e etnoculturais, depois de uma primeira vaga de luta pela descolonização, no período de 1948 a 1965, e de uma segunda vaga correspondente ao movimento pelos direitos civis americano de 1955 a 1965. Sendo uma “revolução de direitos humanos” em nome da igualdade, a luta dos grupos historicamente subalternizados e excluídos tem como condição que estes grupos abandonem as suas próprias tradições de exclusão e de opressão no tratamento das “minorias dentro das minorias” (mulheres, pessoas LGBTQI+, dissidentes, etc.), o que significa que é ainda por referência aos princípios estruturantes do constitucionalismo democrático liberal que as demandas multiculturalistas devem ser analisadas.
Os multiculturalistas liberais não advogam a proteção dos grupos culturais minoritários como se fossem espécies em vias de extinção (independentemente e até contra a vontade dos seus membros), mas sim que se proteja a integridade dos indivíduos “nos contextos da vida nos quais a sua identidade se forma”, como disse Jürgen Habermas. O que se pretende é assegurar a liberdade dos indivíduos de viverem as suas vidas de acordo com os valores em que acreditam e com o que consideram ser uma vida boa e promover a igualdade entre os membros dos grupos culturais minoritários e os membros da cultura dominante, uma vez que se sabe que os Estados, por norma, conferem carácter oficial unicamente aos valores caros à maioria (o que Anne Phillips designa por “monoculturalismo hegemónico”). Os direitos de diferença vêm somar-se – sem os substituir – aos direitos de igualdade, porque estes são insuficientes para proteger cabalmente as pessoas pertencentes a minorias. O foco na proteção da diferença cultural não significa um abandono das reivindicações de tratamento igual e de proteção contra a discriminação fundada em fatores como a raça, a origem étnica, a língua ou a religião. Um e outro tipo de reivindicações são complementares, não mutuamente exclusivos. Trata-se – para convocarmos a fórmula feliz de Boaventura de Sousa Santos – de assegurar uma genuína igualdade, ou seja, que tenhamos o direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferiorize e que tenhamos o direito a ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracterize.
A tradução prática do ideário multiculturalista pode assumir muitas formas (políticas públicas, reformas legislativas para reconhecimento de direitos privativos de minorias ou abertura de exceções à regra geral, etc.) e depende do concreto contexto demográfico e sociopolítico de cada Estado. Nos Estados em que existem populações indígenas (e.g. Estados Unidos da América, Canadá, Brasil, Austrália, Nova Zelândia, Suécia, Gronelândia), as medidas reivindicadas e/ou adotadas por/para estas populações incluem o reconhecimento do direito à terra e demarcação de terras indígenas, o reconhecimento de direitos de autogoverno, garantias de consulta e participação em processos decisórios que lhes digam respeito, o reconhecimento do Direito consuetudinário e de formas de justiça tradicional, etc. Nos Estados com minorias nacionais endógenas – como os bascos e os catalães em Espanha, os flamengos e os valões na Bélgica, os escoceses e galeses no Reino Unido ou os québécois no Canadá –, as reivindicações multiculturalistas incluem o reconhecimento de autonomia federal ou quase-federal às regiões onde essas minorias estão implantadas, o reconhecimento da língua própria dessas minorias como língua oficial a nível regional ou nacional, garantias de representação no governo central ou nos tribunais constitucionais, etc. Nos Estados com minorias étnicas, religiosas ou linguísticas (historicamente implantadas ou formadas em resultado de processos de imigração mais recentes), como são todas as democracias europeias e norte-americanas, as medidas reivindicadas combinam ações de combate à discriminação e proteção contra tratamentos discriminatórios com formas positivas de reconhecimento e de acomodação, como as ditas “ações afirmativas” (affirmative action) e “adaptações razoáveis” (reasonable accommodation). De acordo com o Multiculturalism Policy Index, as reivindicações multiculturalistas mais comuns por parte de pessoas pertencentes a minorias formadas pela imigração (e o mesmo vale para as minorias étnicas, religiosas ou linguísticas endógenas, como são, por exemplo, os ciganos e os falantes de mirandês e de barranquenho em Portugal) incluem, entre outras, a afirmação solene do multiculturalismo como princípio constitucional; a revisão dos programas e manuais escolares para promover o respeito pela diversidade cultural; a garantia de representatividade e sensibilidade multicultural nos meios de comunicação social; a adaptação das regras de vestuário; o apoio financeiro a atividades associativas e iniciativas culturais de grupos minoritários; e a disponibilização de ensino bilingue ou da língua materna minoritária. Pode também pensar-se na dispensa do trabalho para a celebração de festividades religiosas ou observância do dever de guarda por parte de pessoas pertencentes a minorias religiosas, no estabelecimento de quotas étnico-raciais para acesso ao ensino superior ou para o desempenho de cargos públicos, na admissibilidade do “argumento da exceção cultural” (culture defence) em tribunal e num genérico reconhecimento oficial (por via legislativa ou jurisprudencial) do direito dos indivíduos a verem respeitada a sua identidade cultural e a viverem de acordo com os seus valores e tradições.
Muitos dos reptos multiculturalistas têm tido acolhimento em instrumentos internacionais de direitos humanos e, no plano interno dos Estados (na Europa e na América do Norte), é possível observar a adoção de várias das medidas propostas, ainda que apenas o Canadá se assuma abertamente como multiculturalista e o Multiculturalismo – enquanto modelo político-jurídico de gestão da diversidade cultural – tenha sido declarado um completo fracasso por vários líderes europeus (e.g. Angela Merkel, David Cameron, Nicolas Sarkozy) nas últimas décadas.
A importância da diversidade cultural parece ser um dado adquirido para a comunidade internacional, a avaliar pela Declaração Universal sobre Diversidade Cultural, de 2001, que proclama o direito de todas as pessoas a participar na vida cultural da sua escolha e desenvolver as suas próprias práticas culturais (art. 5.º), e a Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, de 2005, que compromete os Estados ao reconhecimento da igual dignidade e ao respeito de todas as culturas, incluindo as das pessoas pertencentes a minorias e as dos povos indígenas (art. 2.º, n.º 3). O respeito pelos direitos das pessoas pertencentes a minorias, incluindo o direito de preservar os traços distintivos da respetiva cultura, encontra eco em vários tratados internacionais de direitos humanos – como o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, de 1966 (art. 27.º) e a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1990 (art. 30.º) – e é objeto de instrumentos internacionais específicos, como a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, de 1992, a Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias, de 1992, e a Convenção Quadro do Conselho da Europa para a Proteção das Minorias Nacionais, de 1995. A União Europeia assume o respeito pelos direitos das pessoas pertencentes a minorias como um dos seus valores fundamentais (art. 2.º do Tratado da União Europeia) e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos parece confiante na existência de um “consenso internacional emergente” a respeito das necessidades especiais das minorias e do dever dos Estados de proteger a sua “segurança, identidade e modo de vida”, não apenas para salvaguardar os interesses das minorias propriamente ditas, mas também para preservar a diversidade cultural que é do interesse da comunidade como um todo (Chapman c. Reino Unido, de 2001).
Da miríade de exemplos de medidas multiculturalistas adotadas pelos Estados na Europa e na América do Norte, podem referir-se o direito de autogoverno reconhecido aos Sami na Finlândia, na Noruega e na Suécia, e aos povos indígenas no Canadá e nos Estados Unidos da América, o direito de manutenção de um sistema de ensino autónomo do ensino público reconhecido aos Amish nos Estados Unidos da América, o direito de usar trajes tradicionais ao serviço das forças armadas reconhecido aos Sikh no Reino Unido, a dispensa do serviço militar concedida aos Quaker e Amish nos Estados Unidos da América, o direito de aprender o mirandês reconhecido aos alunos dos estabelecimentos dos ensinos básico e secundário do concelho de Miranda do Douro em Portugal, a manutenção de um sistema administrativo e judicial bilingue na região italiana de Trentino-Alto Adige em benefício da minoria de língua alemã e as iniciativas em matéria de ensino dirigidas à valorização da diversidade cultural e à promoção do respeito pelo direito à diferença, de que é exemplo, em Portugal, a criação do Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural, de 1991. Como observado por Will Kymlicka em 2012, apesar de o discurso oficial na maioria dos Estados democráticos ocidentais não assumir (e, em alguns casos, rejeitar abertamente) o lema do Multiculturalismo, quase todos os Estados adotam, na prática, políticas subsumíveis ao ideário multiculturalista.
Os críticos do Multiculturalismo acusam-no de minar a coesão social, por promover a formação de guetos (há quem fale em “balcanização” e até em Apartheid) e por agudizar as tensões étnicas e religiosas vividas nas sociedades ocidentais contemporâneas. Mesmo os simpatizantes da causa multiculturalista, de resto, admitem que o risco de isolamento cultural, social e político das minorias não pode ser menosprezado. Segundo os seus críticos, o Multiculturalismo peca por sublinhar as diferenças em detrimento dos valores comuns e por gerar animosidades ao reivindicar direitos específicos para alguns grupos (group-differentiated rights), em nome da sua identidade cultural minoritária ou da necessidade de compensar injustiças passadas. O Multiculturalismo – dizem – é perigoso para a integridade territorial dos Estados, pela sua insistência nos direitos de autogoverno (e, no limite, de autodeterminação) dos povos indígenas e das minorias nacionais. Em contextos de imigração, acrescentam, o Multiculturalismo prejudica a efetiva integração dos imigrantes nas respetivas sociedades de acolhimento, ao dispensá-los de abraçar a cultura dominante nestas sociedades por respeito pelas suas culturas de origem. No plano conceptual, o Multiculturalismo é censurado por assentar num entendimento redutor (essencialista) da cultura, que é vista como algo de monolítico, incontroverso e incontestável para os membros do respetivo grupo, mas também por a fluidez do conceito de cultura permitir usos oportunistas de reivindicações identitárias e criar incerteza quanto ao que merece ser protegido em nome do direito à diferença. A precedência das minorias e dos interesses coletivos sobre os direitos individuais – que é apanágio do Multiculturalismo Comunitarista – representa, além disso, grandes riscos para a liberdade dos membros desses grupos, sobretudo os mais vulneráveis, como tendem a ser as mulheres, as crianças, as pessoas LGBTQI+ e todos aqueles que não se revejam na leitura da cultura comum que é apresentada como autêntica e legítima, num dado momento histórico, por quem detém o poder dentro do grupo (o chamado “paradoxo da vulnerabilidade multicultural”). A tensão entre Multiculturalismo e Feminismo tem sido especialmente debatida, com os multiculturalistas a serem criticados pela sua complacência perante práticas culturais incompatíveis com o princípio da igualdade de género e lesivas para as mulheres, como os casamentos forçados, a mutilação genital feminina, os “crimes de honra”, a poligamia e, segundo alguns, o uso do véu islâmico, em qualquer das suas modalidades.
Como alternativas ao Multiculturalismo, têm-se perfilado essencialmente dois modelos de gestão da diversidade cultural: o Assimilacionismo e o Interculturalismo.
O modelo assimilacionista, de que a França continua a ser o maior porta-bandeira na Europa, nega qualquer relevância política e jurídica à identidade cultural dos indivíduos, em nome do princípio da igualdade, e exige de todos os cidadãos que abracem os valores societários comuns, abstendo-se de manifestar as suas idiossincrasias culturais no espaço público. As ideias-chave são cidadania (citoyenneté), laicismo (laïcité) e igualdade (égalité). Os particularismos culturais são irrelevantes para a titularidade de direitos e de deveres, porque, sendo matéria do domínio privado dos indivíduos, não merecem consideração na esfera pública. Não há, por isso, lugar a qualquer reconhecimento institucional de minorias nacionais, étnico-raciais, religiosas ou linguísticas, e muito menos de direitos privativos desses grupos. A neutralidade estatal, correlato de universalidade e igualdade de todos os indivíduos, é entendida como condição indispensável (e bastante) para a garantia da coesão social. A capacidade integradora do estatuto de citoyen não deixa, no entanto, de ser contestada face às desigualdades de facto que afetam as populações de origem imigrante e esteve especialmente em cheque durante os distúrbios ocorridos nas periferias de várias cidades francesas no outono de 2005.
Enquanto imposição pela força da cultura maioritária sobre as pessoas pertencentes a minorias, o Assimilacionismo é expressamente repudiado pela Convenção Quadro para a Proteção das Minorias Nacionais, que obriga os Estados a abster-se de “qualquer política ou prática tendente a uma assimilação, contra a respetiva vontade, das pessoas pertencentes a minorias” e a proteger essas pessoas de “qualquer ação visando uma tal assimilação” (art. 5.º, n.º 2). A Convenção Quadro ressalva, no entanto, as “medidas tomadas no quadro da respetiva política geral de integração”, que é precisamente o domínio em que os “direitos de diferença” mais se encontram ameaçados nas sociedades europeias contemporâneas, face à crescente popularidade dos partidos de extrema-direita, com os seus programas anti-imigração e slogans nacionalistas primários (como “A Dinamarca para os Dinamarqueses”, do Partido Popular Dinamarquês), e à generalização da retórica assimilacionista em matéria de imigração e de nacionalidade, mesmo entre líderes ditos moderados, com o aumento das exigências de integração cívica dos imigrantes e a generalização dos testes de cidadania como requisito para a naturalização.
O modelo interculturalista parte, tal como o Multiculturalismo, do reconhecimento da importância das identidades culturais, mas põe a tónica no diálogo entre culturas (na sua inter-relação e já não na sua separação), para evitar o “potencial desagregador” daquele outro modelo. As ideias-chave são agora diálogo, convivência, tolerância, solidariedade, integração cívica, coesão social, direitos comuns e cidadania partilhada. Ainda que possam existir dúvidas de que se trate de uma real mudança de paradigma – desde logo, porque o diálogo entre culturas já fazia parte do ideário multiculturalista –, este novo modelo é claramente mais fácil de aceitar pelos líderes políticos e pela sociedade em geral. O diálogo intercultural parece ser hoje o mantra das organizações internacionais de âmbito mundial e regional, bem como da União Europeia e dos seus Estados-Membros. A Assembleia-Geral das Nações Unidas celebrou 2001 como o Ano do Diálogo entre Civilizações e, na sequência dos atentados de 11 de setembro, adotou uma Agenda Global para o Diálogo entre Civilizações. Em 2005, por sugestão dos Governos de Espanha e da Turquia, o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, lançou a iniciativa “Aliança das Civilizações”, um esforço concertado da comunidade internacional no sentido de “estabelecer pontes e ultrapassar preconceitos e evitar polarizações potencialmente ameaçadoras da paz mundial”. A União Europeia, por seu turno, ciente da “riqueza da sua diversidade cultural e linguística”, celebrou 2008 como o Ano Europeu do Diálogo Intercultural e assume o diálogo intercultural como desiderato das suas políticas em domínios como o multilinguismo, a cidadania, a imigração e as relações externas. A nível estatal, e tomando Portugal como exemplo, a mudança de modelo traduziu-se inter alia na redenominação do Secretariado Coordenador dos Programas de Educação Multicultural, que passou a ser Secretariado Entreculturas, em 2001, e na substituição do Alto Comissariado para a Imigração e as Minorias Étnicas pelo Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural, em 2007.
Nas discussões sobre o Multiculturalismo e a viabilidade da nossa vida em comum nas sociedades multiculturais contemporâneas, o termo tem sido frequentemente usado como sinónimo de diversidade cultural, e não para designar um específico modelo político-jurídico de gestão da diversidade cultural assente no reconhecimento e proteção das diferentes identidades culturais. Não é sempre claro, sobretudo nos debates políticos, se o que os críticos do Multiculturalismo rejeitam é a adoção de políticas destinadas a acomodar a diferença cultural (Multiculturalismo propriamente dito) ou antes a simples presença física nas suas sociedades de pessoas com traços fisionómicos e hábitos diferentes dos seus (diversidade cultural). Alguns partidos de extrema-direita e movimentos anti-imigração advogam abertamente a expulsão de todos os indivíduos considerados demasiado diferentes e inassimiláveis, como foi o caso, por exemplo, da promessa eleitoral de expulsão de todos os marroquinos feita por Geert Wilders, nos Países Baixos, em 2017. Isto sugere que não há recuo do Multiculturalismo que satisfaça quem simplesmente não tolera quem seja diferente, já que o que se pretende nesses casos é um regresso à invisibilidade dos grupos tradicionalmente excluídos, algo que o Multiculturalismo, apesar das suas muitas limitações, conseguiu combater de forma razoavelmente satisfatória.
Bibliografia
BAUBÖCK, R. (2002). “Farewell to Multiculturalism? Sharing Values and Identities in Societies of Immigration”. Journal of International Migration and Integration, 3 (1), 1-16.
ELLER, J. D. (1997). “Anti-anti-multiculturalism”. American Anthropologist, 99 (2), 249-256.
GLAZER, N. (1997). We Are All Multiculturalists Now. Cambridge: Harvard University Press.
GUTMANN, A. (org.) (1998). Multiculturalismo. Trad. M. Machado. Lisboa: Instituto Piaget.
JERÓNIMO, P. (2015). “Cidadania e reconstrução da identidade nacional em contextos multiculturais”. Interacções, 36, 3-19.
JERÓNIMO, P. (2019). “Nós e os Outros: Diversidade cultural e religiosa nos marcos das fronteiras”. In L. Neto et al. (eds.). Nós e os Outros: Alteridade, Políticas Públicas e Direito (41-54). Porto: FDUP.
JOPPKE, C. & LUKES, S. (1999). Multicultural Questions. Oxford: Oxford University Press.
KYMLICKA, W. (2003). Multicultural Citizenship. (5.ª reimp.). Oxford: Clarendon Press.
KYMLICKA, W. (2012). Multiculturalism: Success, Failure and the Future. Washington, DC: Migration Policy Institute.
PHILLIPS, A. (2007). Multiculturalism Without Culture. Princeton/Oxford: Princeton University Press.
RAZ, J. (1998). “Multiculturalism”. Ratio Juris, 11 (3), 193-205.
RIBEIRO, M. M. T. (coord.) (2002). Identidade Europeia e Multiculturalismo. Coimbra: Quarteto.
ROSAS, J. C. (2007). “Sociedade multicultural: Conceitos e modelos”. Relações Internacionais, 14, 47-56.
Autora: Patrícia Jerónimo