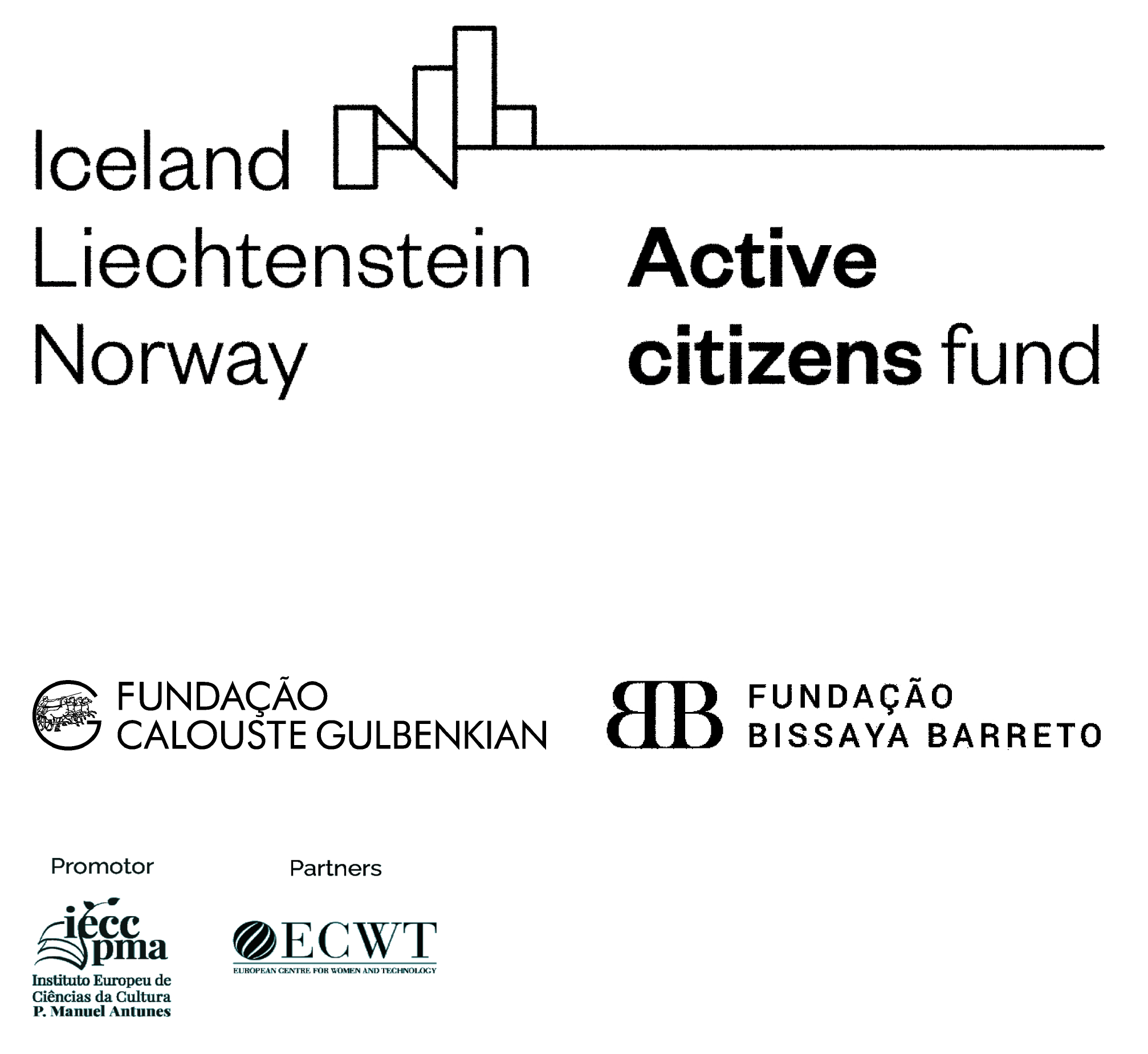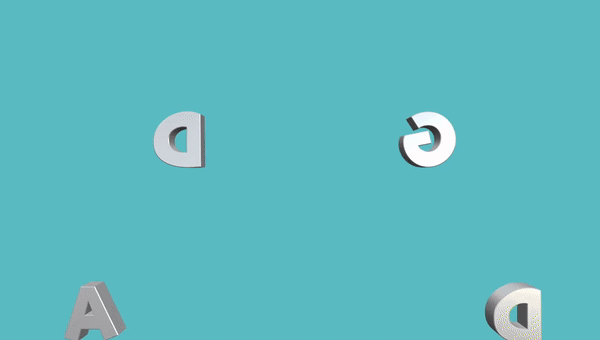Educação, Direito à [Dicionário Global]
Educação, Direito à [Dicionário Global]
Em jeito de introdução
Quando perfez dois anos de controlo talibã, uma professora afegã, em entrevista a uma jornalista, dizia, a determinada altura, a propósito da limitação dos direitos das mulheres: “Quando uma rapariga não estuda, não pode tornar-se médica, engenheira, repórter ou professora. Quando uma rapariga é analfabeta, o seu futuro fica arruinado e o seu país fica subdesenvolvido” (SIC, Jornal da Noite, 15 de agosto de 2023).
Esta imagem telegráfica ilustra bem a importância e a imprescindibilidade da educação para a realização pessoal e profissional do ser humano. Também para o desenvolvimento harmonioso dos povos e dos países. Sem educação, o futuro “fica arruinado”.
Nesta breve abordagem ao direito à educação, começaremos por perscrutar o genuíno significado do verbo “educar”, pois é ele que está na base desta reflexão. Seguidamente, iremos enquadrar o direito à educação à luz do direito internacional e nacional, destacando, particularmente, os documentos marcantes da história dos direitos humanos, comummente sentidos como referências indiscutíveis a nível mundial. Completaremos esta entrada com uma abordagem telegráfica à sensível questão da liberdade de educação, sem a qual o direito à educação não fica cabalmente efetivado.
Educar
Educar, na sua raiz latina educere, significa “tirar de dentro”, “fazer sair”, “extrair”. Significa “conduzir para fora de si mesmo ao encontro da realidade, rumo a uma plenitude que faz crescer a pessoa” (BENTO XVI, 2012, n.º 2).
Qual semente lançada pelo agricultor à terra com o intuito de crescer e de dar frutos, também cada ser humano precisa de terra e de lançadores à terra para fazer crescer os talentos, os dons que encerra desde o seu nascimento. Depois, como o agricultor que acompanha o crescimento da semente – sem nunca a ensinar a crescer, pois ela tem energia e sabedoria para tal –, também o ser humano, desde muito pequeno, precisa de alguém que cuide dele, que esteja atento, que crie relação, para ser “pessoa”. Os cuidadores são os pais – os primeiros educadores dos seus filhos –, a família, os professores, a escola, os governantes, o Estado, as Igrejas, a sociedade.
Nesta linha – descontínua, ou mesmo quebrada, em tantas e tantas situações reais –, educar supõe acompanhar desde fora para deixar nascer tudo o que a pessoa tem dentro; significa intervir positivamente, estimular, para fazer crescer.
Nesta linha, educar é conseguir que cada criança desenvolva ao máximo as suas capacidades e cresça em todas as dimensões. É conseguir que cada pessoa consiga dizer “Eu consigo”!
Uma pessoa “educada” será, pois, uma pessoa que vai construindo o seu projeto de vida e seja capaz de comprometer-se consigo mesma e com os outros em prol do bem comum. Transformando a sociedade à luz da paz, da justiça, da equidade.
Para que não haja mais países a arruinar o futuro dos seus cidadãos.
Os quatro pilares da educação
Depois de tornarmos claro o sentido último do termo educar, vamos saber onde assenta a educação. No último quartel do século XX fez-se esta reflexão e o Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors, propôs uma educação organizada à volta de quatro aprendizagens fundamentais, intimamente correlacionadas, às quais chamou “pilares da educação”: (i) “Aprender a conhecer”, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão, de forma a “aprender a aprender”; (ii) “Aprender a fazer”, para poder agir com eficiência sobre o meio envolvente; (iii) “Aprender a viver juntos”, a fim de participar e cooperar com os outros na construção de uma sociedade mais plural e pacífica; (iv) “Aprender a ser”, como síntese das aprendizagens anteriores, com vista a desenvolver o ser humano na sua pluridimensionalidade (DELORS, 1996, 77-88).
A propósito destes “pilares”, Roberto Carneiro realça a urgência de “aprendermos a viver juntos novamente” – atitude que desdobra em “aprender a viver juntos”, “aprender a aprender juntos” e “aprender a crescer juntos” – promovendo os valores da interculturalidade, da tolerância e da paz (CARNEIRO, 2001, 79-82; 225). Para atingir este desiderato, o autor propõe atitudes de escuta e respeito ao próximo, a aquisição de aptidões comunicacionais com o diferente, o gosto de apreciar o património cultural dos outros, a descoberta do “fascínio da diversidade” e capacidade para “superar a sedução primária de propostas fundamentalistas ou fanáticas” (CARNEIRO, 2001, 176).
Só neste quadro será possível experienciar dois grandes suportes axiológicos da educação: “aprender a ser para si e aprender a ser para a (e na) sociedade”.
São estes mais alguns desafios que se põem à educação contemporânea – uma educação que terá de ser construída sobre sólidos pilares, atenta aos sinais dos tempos, sem receio das mutações societárias, aberta à diversidade e que acompanha a pessoa ao longo de toda a sua vida.
O direito à educação no direito internacional
O Direito à Educação é um princípio fundamental e universal que reconhece o acesso equitativo e inclusivo à educação como um direito humano essencial. Esta ideia está enraizada em vários tratados, convenções, pactos e declarações internacionais, de reputada importância, e começa a emergir, com maior intensidade e amplitude, após o período negro da Segunda Guerra Mundial. A comunidade internacional, finalmente, entende que a promoção da paz e da tolerância entre os povos passa, também, por cada pessoa ter mais e melhor educação.
Destacamos alguns desses documentos fundantes, a começar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), mediante a resolução n.º 217 (III), de 10 de dezembro de 1948. No n.º 1 do art. 26.º declara-se que “Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental”.
Por sua vez, a Declaração dos Direitos da Criança, proclamada pela ONU, em 20 de novembro de 1959, consigna no princípio 7.º que “A criança tem direito a receber educação, que será gratuita e obrigatória pelo menos ao nível elementar”.
Em 1966, o Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais estabelece no art. 13.º o seguinte: “1. Os Estados partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda a pessoa à educação […]; 2. Os Estados partes no presente Pacto reconhecem que, com o objetivo de conseguir o pleno exercício deste direito: a) O ensino primário deve ser obrigatório e acessível a todos gratuitamente; b) O ensino secundário […] deve ser generalizado e tornado acessível a todos pelos meios que forem apropriados, e em particular pela implantação progressiva do ensino gratuito”.
Também a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989, declara no n.º 1 do art. 28.º que “Os Estados Partes reconhecem o direito da criança à educação, tendo nomeadamente em vista assegurar progressivamente o exercício desse direito na base da igualdade de oportunidades”. Esta mesma Convenção, na alínea a) no n.º 1 do art. 29.º, define bem o objetivo primeiro da educação: “Promover o desenvolvimento da personalidade da criança, dos seus dons e aptidões mentais e físicos na medida das suas potencialidades”.
A nível da União Europeia, reforça-se esta ideia basilar do direito à educação, pois considera-se o seu papel essencial na definição do futuro da Europa, tanto a nível económico como social, como político, “respondendo simultaneamente às necessidades dos cidadãos europeus e construindo uma comunidade de cidadãos unida na diversidade pelos seus valores fundamentais comuns” (Resolução do Parlamento Europeu de 12 de junho de 2018, sobre a modernização da educação na União Europeia).
A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2016), na esteira de tratados internacionais de largo espetro e grande consenso, a este nível, refere nos n.os 1 e 2 do art. 14.º o seguinte: “Todas as pessoas têm direito à educação, bem como ao acesso à formação profissional e contínua. Este direito inclui a possibilidade de frequentar gratuitamente o ensino obrigatório”.
Encontra-se, pois, claramente plasmado no direito internacional o direito à educação – um metaprincípio aceite pela quase totalidade dos países.
O direito à educação no direito nacional
Na atual Constituição da República Portuguesa (de 2 de abril de 1976, versão de 2005), o direito à educação encontra-se na parte I, dedicada aos “Direitos e deveres fundamentais”, expressamente como liberdade, no art. 43.º, no título II, respeitante aos “Direitos, liberdades e garantias”, assim como no art. 73.º, ao lado da cultura e da ciência, no título III, respeitante aos “Direitos e deveres económicos, sociais e culturais”, na vertente de “Direitos e deveres culturais”. Esta localização no texto constitucional é relevante em termos sistemáticos.
O n.º 1 do art. 73.º é perentório: “Todos têm direito à educação e à cultura”. O n.º 1 do artigo seguinte complementa-o e acrescenta outro direito correlacionado: “Todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar”.
Para uma cabal garantia deste direito à educação, a Constituição da República Portuguesa, no n.º 1 do art. 75.º, refere que “O Estado criará uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população”, não deixando, contudo, de reconhecer o ensino privado.
Por sua vez, a Lei de Bases do Sistema Educativo (lei n.º 46/86, de 14 de outubro, e alterada pelas leis n.os 115/97, de 19 de setembro, 49/2005, de 30 de agosto, e 85/2009, de 27 de agosto), no n.º 2 do art. 1.º, refere que o direito à educação “se exprime pela garantia de uma permanente ação formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade”. E o n.º 1 do art. 2.º reproduz a Constituição, afirmando que “Todos os portugueses têm direito à educação e à cultura, nos termos da Constituição da República”.
O direito à educação na legislação portuguesa está, pois, devidamente garantido e organizado, apostado em atingir todos os cidadãos de forma justa e equitativa.
O direito à educação num contexto de liberdade
Imanente ao direito à educação está o valor da liberdade – um valor inscrito em todos os tratados e constituições, gerador, não poucas vezes, e um pouco por todo o lado, de tensões, dúvidas e debates.
Liberdade de educação no contexto internacional
A nível internacional, por norma, os tratados e convenções, a par da garantia do direito à educação, falam da liberdade de educação/liberdade de ensino/liberdade de escolha, ou seja, da liberdade de criação de escolas não estatais e na liberdade de os pais escolherem a escola e o tipo de ensino para os seus filhos. Alguns exemplos, entre muitos outros, que poderiam ser trazidos à colação:
– Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o n.º 2 do art. 26.º estabelece que “Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o género de educação a dar aos seus filhos”.
– Decorrente da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e com o objetivo de fazer a ponte entre o idealismo das grandes declarações e o pragmatismo exigido pelos novos dinamismos sociais posteriores à Segunda Guerra Mundial, surge, em 4 de novembro de 1950, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e os seus protocolos. No seu art. 2.º do protocolo n.º 1, pode ler-se “A ninguém pode ser negado o direito à instrução. O Estado, no exercício das funções que tem de assumir no campo da educação e do ensino, respeitará o direito dos pais a assegurar aquela educação e ensino consoante as suas convicções religiosas e filosóficas”. A segunda frase deste artigo assegura o direito (natural) dos pais a proporcionar aos filhos a educação que eles consideram mais apropriada. Facilmente se constata que este direito fundamental fica coartado sempre que, por motivos económicos (ou por outros), um pai não matricula um filho numa escola privada ou estatal da sua preferência.
– No Protocolo adicional à Convenção de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (1952), emanado do Conselho da Europa, declara-se no art. 2.º o seguinte: “O Estado, no exercício das funções que assumirá no campo da educação e do ensino, respeitará o direito dos pais de garantir esta educação e este ensino, segundo as suas convicções religiosas e ideológicas”.
– Na Declaração dos Direitos da Criança (1959), o art. 7.º vinca a responsabilidade primeira dos pais, consignando o seguinte princípio: “A criança tem direito a receber educação, que será gratuita e obrigatória pelo menos ao nível elementar. […]. O superior interesse da criança deve ser o principal objetivo de quem tem a responsabilidade da sua educação e orientação: esta responsabilidade cabe, em primeiro lugar, a seus pais”.
– A Convenção Contra as Discriminações no Domínio do Ensino, aprovada pela UNESCO em 1960, estabelece, no n.º 1 do art. 5.º, que os Estados “devem respeitar a liberdade dos pais […] de escolher para os seus filhos estabelecimentos de ensino que não sejam os mantidos pelos poderes públicos, porém que respeitem as normas mínimas prescritas ou aprovadas pelas autoridades competentes”.
– A Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de março de 1984, no ponto n.º 9, afirma que: “O direito à liberdade de ensino implica a obrigação para os Estados membros de tornar possível, mesmo no plano financeiro, o exercício prático desse direito e de atribuir às escolas os subsídios públicos necessários ao exercício da sua missão e o cumprimento das suas obrigações, em condições iguais às dos estabelecimentos públicos correspondentes, sem discriminação em relação aos seus organizadores, aos pais, aos alunos, ao pessoal”.
– Na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e no que concerne à liberdade de educação, o n.º 3 do art. 14.º estabelece que “são respeitados, segundo as legislações nacionais que regem o respetivo exercício, a liberdade de criação de estabelecimentos de ensino, no respeito pelos princípios democráticos, e o direito dos pais de assegurarem a educação e o ensino dos filhos de acordo com as suas convicções religiosas, filosóficas e pedagógicas”.
Liberdade de educação no contexto nacional
Integrado no capítulo dos “Direitos, liberdades e garantias pessoais”, ou seja, em pleno domínio dos direitos fundamentais, o art. 43.º da Constituição da República Portuguesa, sobre a Liberdade de aprender e ensinar, consigna que “É garantida a liberdade de aprender e ensinar” (n.º 1) e “É garantido o direito de criação de escolas particulares e cooperativas” (n.º 4). Por sua vez, o n.º 2 do art. 75.º estabelece que “O Estado reconhece e fiscaliza o ensino particular e cooperativo, nos termos da lei”, oficializando o seu funcionamento, permitindo, assim, que ele integre a rede escolar. Outra garantia decorre do n.º 5 do artigo 41.º: “É garantida a liberdade de ensino de qualquer religião”.
Ainda sobre o n.º 1 do art. 75.º, já referido acima, no ponto 5 – “O Estado criará uma rede de estabelecimentos públicos que cubra as necessidades de toda a população” –, o conceito de público tem gerado muita controvérsia, consoante o entendimento que se tem sobre o papel do Estado na educação. Na ótica da liberdade de educação, esta disposição normativa apenas impõe ao Estado a obrigação de criar uma rede escolar, que, até pela Lei de Bases do Sistema Educativo, integra, de pleno direito, as escolas privadas (como adiante referiremos). A este propósito, escreveu Mário Pinto o seguinte: “A chamada ‘esfera pública’ não é toda ela exclusivamente de ação estatal, como se postula nas ideologias totalitárias e autoritárias, contrapondo o público e o privado: público igual a Estado, e privado igual a Sociedade. A integração na esfera pública não é simplesmente determinada pelo sujeito da ação, mas decisivamente pelo interesse público ou a utilidade pública da ação. E as instituições privadas que integram a Sociedade podem ser, e são na sua grande maioria, ‘de utilidade pública’ – quando não se limitam na esfera da estrita vida privada, pessoal ou familiar, constitucionalmente protegida pela Constituição na sua intimidade” (PINTO, 2022, n.º 14).
Com efeito, a obrigação de financiamento público da educação, além de constar de instrumentos internacionais que vinculam o Estado português, está implicitamente consagrada no n.º 1 do art. 74.º da Constituição, ao referir que “Todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar”, acrescentando, no n.º 2, “Na realização da política de ensino, incumbe ao Estado: a) assegurar o ensino básico universal obrigatório e gratuito; […] e) estabelecer progressivamente a gratuitidade de todos os graus de ensino”.
Outro diploma proeminente a nível da educação é a Lei de Bases do Sistema Educativo. E neste particular, ela é mais ousada tanto na liberdade de ensino como na liberdade de aprender. Esta importante lei define desta forma a estrutura do sistema educativo: “O sistema educativo desenvolve-se segundo um conjunto organizado de estruturas e de ações diversificadas, por iniciativa e sob responsabilidade de diferentes instituições e entidades públicas, particulares e cooperativas” (n.º 3 do art. 1.º). E integra no sistema, embora respeitando a sua especificidade, o “ensino particular e cooperativo” (art. 57.º e ss.). Com efeito, se por um lado refere que a rede escolar inclui “uma rede de estabelecimentos públicos de educação e ensino que cubra as necessidades de toda a população” (n.º 1 do art. 40.º), a mesma lei acrescenta duas normas muito importantes no art. 58.º: “Os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo que se enquadrem nos princípios gerais, finalidades, estruturas e objetivos do sistema educativo são considerados parte integrante da rede escolar” (n.º 1); “No alargamento ou no ajustamento da rede, o Estado terá também em consideração as iniciativas e os estabelecimentos particulares e cooperativos, numa perspetiva de racionalização de meios, de aproveitamento de recursos e de garantia de qualidade” (n.º 2).
Também um outro normativo – decreto-lei n.º 108/88, de 31 de março – atribui às escolas privadas uma igualdade com as escolas públicas para os efeitos de integração na rede escolar: “As escolas particulares e cooperativas passam a fazer parte integrante da rede escolar, para efeitos do ordenamento desta” (n.º 1 do art. 2.º).
Ainda a nível da legislação comum, a lei n.º 85/2009, de 27 de agosto (que estabelece o regime da escolaridade obrigatória para as crianças e jovens que se encontram em idade escolar) concede o direito de o encarregado de educação escolher a escola para o seu educando, sem por isso perder o seu direito (universal) à gratuitidade do ensino obrigatório. Diz expressamente o n.º 3 do art. 2.º: “A escolaridade obrigatória implica, para o encarregado de educação, o dever de proceder à matrícula do seu educando em escolas da rede pública, da rede particular e cooperativa ou em instituições de educação e ou formação, reconhecidas pelas entidades competentes, determinando para o aluno o dever de frequência”. E esclarece no n.º 3 o seguinte: “1 – No âmbito da escolaridade obrigatória o ensino é universal e gratuito. 2 – A gratuitidade prevista no número anterior abrange propinas, taxas e emolumentos relacionados com a matrícula, frequência escolar e certificação do aproveitamento, dispondo ainda os alunos de apoios no âmbito da ação social escolar, nos termos da lei aplicável”.
Por último, de assinalar que a Constituição, além de garantir a liberdade de aprender e ensinar, como já vimos (n.º 1 do art. 43.º), também garante o princípio da subsidiariedade (arts. 6.º e 7.º). Diz Mário Pinto a este respeito: “Inegável é portanto que, desde então [revisão constitucional de 1997], passou a ser constitucionalmente obrigatório que todas as decisões políticas de interesse público, em Portugal, devem ser sempre tomadas pelo nível de decisão mais próximo possível dos cidadãos. E o nível de decisão mais próximo possível dos cidadãos é, evidentemente, o nível de decisão dos próprios cidadãos, individualmente ou em associação civil: diretamente, pela sua iniciativa e o seu desempenho [como é o caso das escolas privadas]” (PINTO, 2022, n.º 6).
Podemos, pois, inferir que o quadro normativo vigente, mesmo despido de outros diplomas favoráveis entretanto revogados, mostra abertura ao direito à educação num contexto de liberdade de educação. Questões de outra ordem, porém, obnubilam estes direitos, condicionando o valor da liberdade e a sua efetiva concretização. Não basta, pois, proclamar direitos; urge criar condições, como nos diz Jorge Miranda: “Para que haja liberdade de escolha, tem de ser assegurada, portanto, em tensão dialética, a existência quer de escolas privadas e cooperativas quer de escolas públicas. E, para que essa liberdade de escolha seja efetiva, têm de ser assegurados a quem deseja frequentar um ou outro tipo de escola os indispensáveis meios económicos (MIRANDA, 2022, 295).
Considerações finais
Indubitavelmente – até porque os tratados internacionais estão ratificados pela quase totalidade dos países, independentemente do regime político – existe um largo consenso da comunidade internacional no entendimento de que a educação é fundamental para a promoção da pessoa humana, dos povos e das nações e um elemento-chave para alcançar a paz duradoura e o desenvolvimento sustentável. A educação é, pois, uma ferramenta poderosa para desenvolver o potencial de todas as pessoas – indo ao encontro da sua etimologia – e, desta forma, promover o bem-estar individual e coletivo. Todos têm direito à educação, sem discriminação de nenhuma espécie.
No entanto, este consenso a nível dos princípios nem sempre é acompanhado de políticas públicas condicentes e colide muitas vezes, sobretudo em países do terceiro mundo, com ideologias radicais geradoras de discriminações e profundas injustiças, que restringem (ou anulam mesmo) o direito à educação. Em pleno século XXI.
Por outro lado, e a nível da liberdade de educação, mesmo em países ditos desenvolvidos, este direito fundamental intrínseco ao processo educativo é coartado, quando não totalmente banido, prejudicando, sobretudo, os estratos sociais mais desfavorecidos. Também aqui, há muito caminho a fazer, para se consumar, de facto, o direito a uma educação e aprendizagem de qualidade para todos e para cada um.
Bibliografia
Impressa
CARNEIRO, R. (2001). Fundamentos da Educação e da Aprendizagem. Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão.
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2016).
Constituição da República Portuguesa (2005).
Convenção Contra as Discriminações no Domínio do Ensino (1960).
Convenção Sobre os Direitos da Criança (1989).
Declaração dos Direitos da Criança (1959).
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948).
Decreto-lei n.º 108/88, de 31 de março.
DELORS, J. (org.) (1996). Educação, Um Tesouro a Descobrir. Porto: ASA.
Lei de Bases do Sistema Educativo (2009).
Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto.
MIRANDA, J. (2022). “Liberdade de educação – Homenagem a António de Sousa Franco”. In J. Cotovio (coord.). António de Sousa Franco e a Liberdade de Educação (289-300). Lisboa: SNEC.
Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDEC) (1966).
PINTO, M. (2022). “Sobre o princípio da subsidiariedade do Estado”. Nova Cidadania, XXIV (78), 27-33.
Protocolo adicional à Convenção de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (1952).
Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de março de 1984.
Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de junho de 2018.
Digital
BENTO XVI (2012, 1 de janeiro). Mensagem de Sua Santidade Bento XVI para a Celebração do XIV Dia Mundial da Paz, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20111208_xlv-world-day-peace.html (acedido a 27.02.2024).
PINTO, M. (2020, 26 de setembro). “Um livro muito raro”. Observador, https://observador.pt/opiniao/um-livro-muito-raro (acedido a 27.02.2024).
Autor: Jorge Cotovio